
O que aconteceu com o jornalismo musical no Brasil? Por Lauro Lisboa Garcia
Lauro Lisboa Garcia é jornalista especializado em música popular, foi editor-assistente, repórter e crítico dos jornais O Estado de S.Paulo e Jornal da Tarde e das revistas Época, IstoÉ e Visão, entre outras publicações sediadas em São Paulo. Colaborou para diversos livros sobre música brasileira, além de séries de fascículos com CDs da Publifolha, como as de Tom Jobim, Elis Regina, Grandes Vozes, Soul & Blues. Atualmente é colaborador do jornal O Estado de S.Paulo, jurado do Prêmio da Música Brasileira, fotógrafo, consultor e pesquisador musical.
Ilustrações de Lourenço Mutarelli — desenhista, escritor e ator. Dentre os livros que escreveu estão “O cheiro do ralo” e “A arte de produzir efeito sem causa”. Das histórias em quadrinhos de sua autoria destacam-se “Transubstanciação” e “Diomedes”. Dos filmes em que atuou, “Que horas ela volta?”, de Anna Muylaert, e “O escaravelho do diabo”, de Carlo Milani.
Capa por Ale Amaral – Paulistano e pai da Laura. Trabalha no Sesc São Paulo desde 2004, atualmente como designer gráfico no Selo Sesc. Toca bateria no barulhento duo Bugio e colabora musicalmente com diversos artistas nacionais da cena experimental e de improvisação livre.
O que dizia o compositor Nelson Sargento sobre o samba há 40 anos serve em 2017 para situar a confusão em que se meteu a crítica de música no Brasil. Reflexo de um conjunto de fatores que vem afetando o jornalismo e o mercado de música desde o avassalador levante da internet na virada deste século, a crise da profissão tem levado jornalistas a se debater em autocríticas, em que atritam inconformismo, ética e camaradagem, mas faltam perspectivas.
Um dos pontos de maior conflito trata da relação de intimidade que se criou entre jornalistas da área de cultura e artistas e toda a cadeia produtiva de música. Sob a capa nebulosa da tensão econômica, criou-se uma espécie de corrente solidária em que o ônus financeiro pesa nas decisões editoriais e na avaliação dos produtos. Sabe-se o quanto artistas e bandas independentes batalham para conseguir realizar shows e discos, sem o investimento e a máquina promocional das grandes gravadoras, do mesmo modo como os jornalistas são mal remunerados pelo trabalho diário, cada vez mais desvalorizado, monetária e moralmente (não apenas na área de cultura).
Com a diminuição no espaço físico dos grandes jornais, além da escassez de revistas especializadas em música no Brasil (que nunca foi exemplar nesse setor), o exercício da crítica praticamente caiu da pauta. A análise tomou ares de resenha ou foi reduzida a notinhas com cotações e estrelinhas, tão superficiais quando a espessura de um CD. O volume gigantesco de lançamentos é incompatível com o tempo de dedicação ao trabalho, o que não permite que se escute um disco mais do que duas vezes, apreciando e analisando com critério e precisão de detalhes.
Poucos álbuns recém-lançados se fixam na memória até mesmo entre especialistas. Cada vez mais o consumidor ouve música aleatoriamente, como quem belisca um embutido sem se dar conta do veneno que ingere. O interesse por conceitos sonoros, autorias de composição, produção e arranjos e fichas técnicas é característica de poucos aficionados — os que, provavelmente ainda também procuram ler mais sobre música do que sobre patrulhamento de celebridades.
Os cadernos de cultura, que viraram suplementos de comportamento e entretenimento, sempre foram parte menos cotada na hierarquia dos jornais. E a música continua a concorrer em desigualdade com cinema e literatura, por exemplo. É um erro, sabem jornalistas especializados, já que a música popular é a forma de arte mais presente, abrangente e influente e a de maior consumo no Brasil. “Um editor de jornal é alguém que separa o joio do trigo — e publica o joio”, disse o político americano Adlai E. Stevenson (1900–1965). Quem conviveu com muitos deles sabe do que se trata.
Como disse o crítico e historiador americano Ted Gioia em artigo publicado em 2014, a música passou a ser tratada na mídia como estilo de vida. Quando se fala de determinado artista, não é a música que mais interessa, mas as roupas, os namoros, os problemas que ele tem com a polícia. “Os editores dos cadernos querem mais fofoca e escândalo. A música é apenas um acessório, do mesmo nível de um tênis da moda ou de um smartphone”, cita Carlos Calado. “O jornal tinha a missão de quase ser o ombudsman da sociedade. Às vezes você tinha um show maravilhoso, que nunca ninguém tinha trazido, e na cobertura o veículo dava mais destaque para o problema do banheiro químico do evento”, lembra Claudia Assef.
Ao deixar de valorizar a música (brasileira, especificamente), que é uma moeda altíssima na roda cultural, o jornal dá um tiro no pé, como diz Luiz Chagas. “Ao não dar espaço para isso, seja falando bem ou mal, a música vai enfraquecendo e o jornal enfraquece junto, porque não tem a moeda cultural mais valiosa. Então, é uma reação em cadeia. O público mainstream se desinteressou muito por música por falta desse tipo de incentivo”, diz Luiz Chagas.
O crítico de música é o bloco flutuante num oceano de agentes poluentes, mas é a ele que os leitores mais atentos (incluindo colegas de profissão) atribuem a responsabilidade pela deriva do ofício. Porém, ao visar o sensacionalismo, as chefias muitas vezes podam a criatividade e comprometem a credibilidade do repórter/crítico, em jogos de interesse e ações entre amigos. Em revistas semanais é comum o repórter assinar um texto reescrito por algum chefão, expressando uma opinião terceirizada.
O jornal tradicional, o mesmo da piada que embrulhava peixe no século 20, sobrevive de agradar a leitores conservadores como os donos dos veículos, submetidos à publicidade, aos interesses de instituições financeiras, ao que repercute na web medido pela quantidade de “likes” no Facebook ou de “views” no YouTube, aos modismos de cada temporada. “De certa maneira eles pensam como pensa a internet, cada vez mais se transforma numa coisa só”, diz Calado. O modelo ideal de jornalismo de opinião independente, que contribuía para impulsionar a corrente do reconhecimento da arte, quebrou o salto na passarela.
A indústria fonográfica segue a mesma trilha sobre os escombros, relançando ad infinitum álbuns clássicos como os dos Beatles e medalhões da MPB em efemérides, com alguma isca fresca para atrair os mesmos fãs e colecionadores: caixas com compilações exclusivas de raridades, encartes com imagens supostamente inéditas, re-re-remasterizações de áudio, sobras de estúdios e afins. Tudo patina no mesmo círculo vicioso e estonteante.
Os críticos de música que “fizeram o nome” no final do século 20 ainda são muito importantes no “papel de guias na selva de propostas musicais”, como diz o espanhol Carlos Galilea, mas caíram do pedestal. Há muitos profissionais desbancados por amadores, da mesma forma como qualquer portador de um iPhone se considera fotógrafo, como qualquer celebridade animadora de balada se arvora a ser reconhecida como DJ. Quem manda no dinheiro paga pela embalagem, não pelo conteúdo. Não se trata de lamentar com nostalgia dos “bons tempos”, mas de constatação da densa realidade. O movimento da roda emperrou e necessita de lubrificação para não criar limo. Ou se transformar em atração de museu.
Essas conclusões surgiram de conversas com alguns dos nomes mais importantes na área da informação sobre música em atividade no eixo Rio-São Paulo, entre eles Silvio Essinger, Leonardo Lichote, Carlos Calado, Mauro Ferreira, Adriana Ferreira Silva, Claudia Assef e Roberta Martinelli, além de Carlos Galilea, radialista, pesquisador, repórter e crítico do jornal espanhol El País, grande conhecedor de música brasileira, que já foi curador do robusto festival PercPan — Panorama Percussivo Mundial em Salvador e Rio. Luiz Chagas, Marcus Preto e Rodrigo Carneiro são três que atuam mais “do outro lado”, atualmente envolvidos menos com jornalismo do que com produção artística.
Da mesma forma como a indústria eliminou o CD como produto rentável, a crítica parece ter se tornado tão obsoleta quanto acendedor de lampião no campo da eletricidade, exceto para os artistas e os envolvidos na produção e divulgação deles. “O fato de eu ainda estar num grande jornal como O Globo tem uma importância que é real, não menosprezo isso. A gente é só mais uma voz dentro de um diálogo de muitas vozes, cada vez maior, só que ainda estamos num momento de transição no sentido de percepção da importância da crítica”, diz Leonardo Lichote.
“Como modelos de legitimação de um mercado consolidado do século 20, com gravadoras, editoras e imprensa interligadas, ainda não fomos substituídos. Então, essa legitimação é ainda muito importante para o artista. Se sai uma boa matéria sobre ele no Globo, ele tem mais chance de conseguir fazer show no Rio, por exemplo. Agora, a molecada não dá a mínima para a crítica mais. Não digo com saudosismo, é a real.”
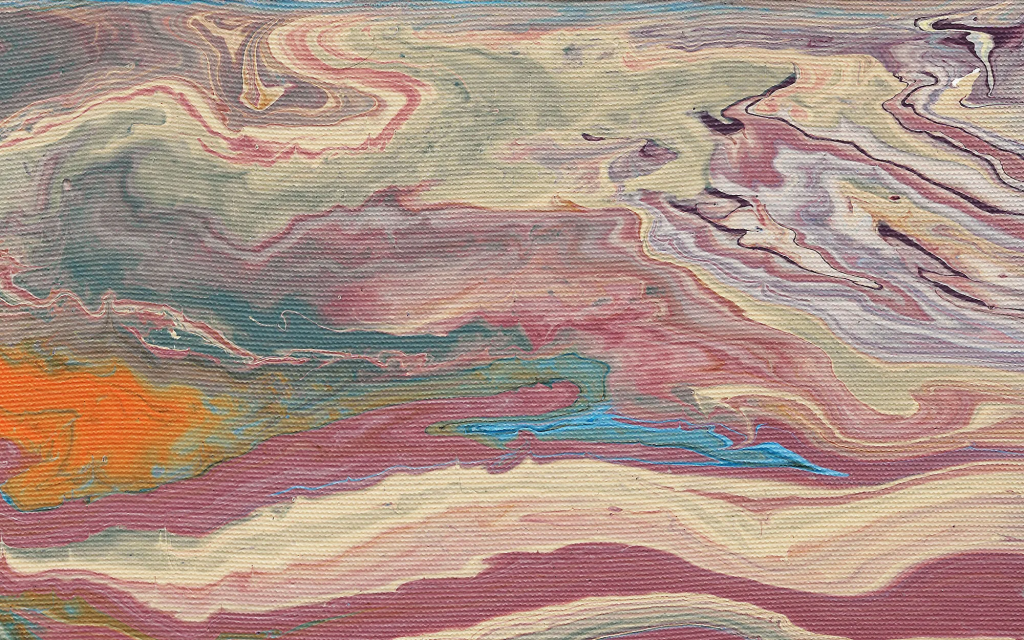
A maioria dos jornalistas enredados nesta reportagem, incluindo o autor do texto, formou-se profissionalmente na era anterior ao CD, muito antes de sonhar com as facilidades da internet ou nem sequer imaginar como e o quanto a tecnologia iria evoluir e transformar radicalmente o ambiente da música popular. Como em tudo no planeta, é óbvio que o impacto da tecnologia da informação sobre os hábitos de leitura (ou a ausência deles) afetou vigorosamente o exercício da escrita.
Aos olhos das gerações que nasceram ou cresceram com um celular numa mão e um controle de videogame na outra, o universo musical da era do LP, dos fascículos da Abril Cultural sobre a História da MPB, das revistas especializadas e dos poucos livros disponíveis sobre música — e a grande dificuldade enfrentada para se ter acesso a isso tudo — soa compreensivelmente anacrônico e romântico.
Publicações brasileiras como Rolling Stone (a primeira versão em tabloide, de 1972–73), Pop (1972–79), Revista Música (1976–83), SomTrês (1979–1989), Pipoca Moderna (1982–83) e Bizz (1985–2008) e repórteres, articulistas, críticos e musicólogos da maior importância, como José Ramos Tinhorão, Ana Maria Bahiana, Tárik de Souza, Zuza Homem de Mello, Sérgio Cabral, Roberto Mugiatti, Ruy Castro e Maurício Kubrusly (antes de ir para a televisão), eram as referências dos formadores de opinião que despontaram nas décadas de 1980 e 90.
Estudioso e pesquisador sério, o outrora temido Tinhorão, como outros seguidores, passou do jornal (em que atuou entre 1959 e 1982) ao livro e seu acervo bibliográfico é fonte de valor imprescindível. Era um notório adversário da bossa nova e dos estrangeirismos em geral presentes na música brasileira. “Seus artigos […] não eram textos ‘descartáveis’ no jornal. Podem ser considerados verdadeiros retratos de uma época”, avalia a jornalista Elizabeth Lorenzotti no livro Tinhorão, o Legendário.
“Nos tempos do LP, na minha adolescência, o acesso que tínhamos à música era muito distante do que qualquer criança tem hoje. As críticas eram realmente balizas. Comprei muitos discos por causa das críticas, antes de ouvir, baseado na capacidade que aqueles críticos tinham de traduzir o entusiasmo pelos discos em palavras. E a gente ficava semanas ouvindo aqueles discos, prestando atenção em detalhes de gravação, lendo os encartes”, diz Essinger, ele também autor de importantes livros sobre música pop. “Isso hoje não existe mais. Quando leem uma crítica as pessoas já tiveram no mínimo um teaser do disco, então estão mais atrás de uma impressão imediata daquilo do que uma argumentação extensa. Basta saber se é bom ou ruim. Eu mesmo ouço música individualmente, é difícil escutar um álbum recente inteiro várias vezes.”
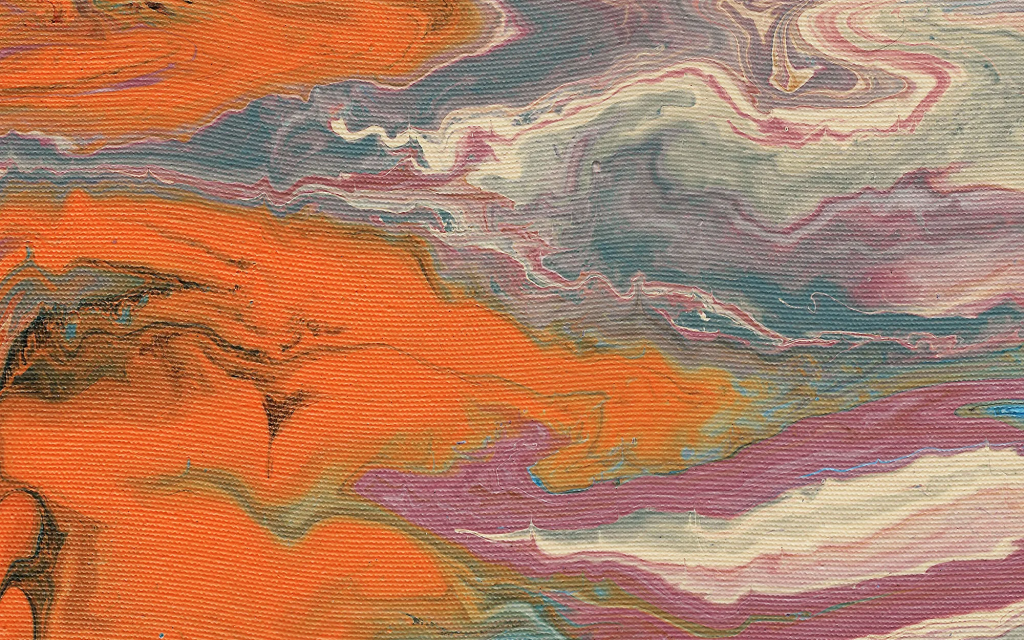
As redações eram grandes, bem como os tamanhos dos segundos cadernos. No início dos anos 1990 havia espaço generoso em jornais como O Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil e Folha de S. Paulo, com muita gente escrevendo. Atuavam especialistas em jazz, pop, rock, música clássica e popular brasileira, cada um no seu nicho, embora muitas vezes surgissem conflitos internos, o que se refletia no texto publicado.
Roqueiros detratores de qualquer gênero nacional estavam sempre armados para escrever com agressividade e sem nenhum senso de humor. Editores e chefes de reportagem costumavam orientar repórteres novatos a “falar mal” e com isso alimentar o mito um tanto patético do crítico raivoso, sisudo, intocável, incapaz de demonstrar prazer ao assistir a um show. O crítico dentro desse setor, como diz Essinger, que nunca seguiu a linhagem dos radicais, era quase sempre “uma sub-função do repórter”.
Em caso de alguma “polêmica” — palavra tão vulgarizada e desprovida de sentido atualmente — havia grande repercussão quando se tratava de jornalistas respeitáveis. É claro que alguns forjavam situações apenas para manter a fama de mau. Perseguiam escancaradamente artistas de quem não gostavam, mas aos poucos foram perdendo a credibilidade, por causa de equívocos notórios e até acusações (e algumas comprovações) de plágio.
Em 1987, Luiz Antonio Giron entrou em atrito com Rita Lee por causa de uma crítica publicada no Caderno 2 de O Estado de S. Paulo, em que dizia que ela estava “na menopausa criativa”, numa matéria de capa intitulada “O rato roeu o rock de Rita”. Tanto ela como os fãs ficaram furiosos e sobraram farpas e ameaças para todos os lados durante semanas, num embate público.
“Críticos de música adoravam me crucificar, não importava o que eu fazia ou deixava de fazer, um ranço que durou por todos os meus 50 anos de estrada”, escreveu Rita em Uma Autobiografia, lançada em 2016. “Claro que receber críticas era desconfortável para mim, mas ao mesmo tempo inspirador.” Tanto é que depois desse episódio Rita compôs o rock “Menopower”, gravado no álbum de 1993.
Pouco tempo depois, no Jornal da Tarde, uma subeditora de Variedades inventou perguntas que o repórter não tinha feito a Rita, só para editar a entrevista em formato de pingue-pongue. Pegou mal. Por essas e outras, Rita parou de dar entrevistas pessoalmente e passou a responder por e-mail perguntas de alguns jornalistas que selecionava, para evitar que suas falas fossem deturpadas.
“Algumas vezes fui convidado a escrever sobre discos de música brasileira na Folha Ilustrada, porque se o editor jogasse na mão daqueles caras que só gostavam de rock gringo eles iam detonar”, lembra Luiz Chagas, que há décadas concilia as carreiras de jornalista e músico. Atualmente, ele é guitarrista da banda da cantora Tulipa Ruiz, sua filha, e toca na Isca de Polícia desde os primórdios de Itamar Assumpção (1949–2003).
Os críticos de rock em geral seguiam a linha editorial do célebre semanário inglês New Music Express (o NME), muitas vezes excessivamente reverentes a tudo que o tabloide indicava. “Há sempre uma tendência a privilegiar quem está ao seu redor. Tenho opiniões radicais, acho Itamar o máximo e toquei com ele, então fica complicado, mas tento usar meu bom senso. Mas falar do que é distante, da música estrangeira, é mais fácil, claro”, diz Chagas.
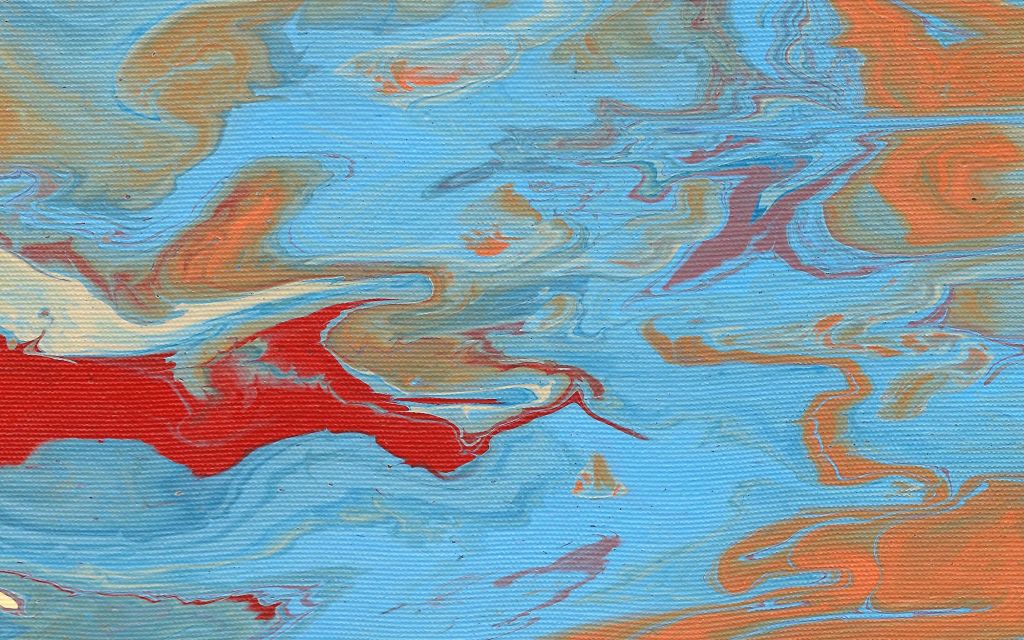
As críticas de shows, como preferem Claudia Assef, Adriana Ferreira e Carlos Galilea, sempre tiveram menos espaço do que a de discos — o que é uma espécie de anticlímax se o veículo cria expectativa ao dedicar grande espaço antes da estreia, com detalhes sobre o espetáculo, e depois não conta como foi.
O ato de receber um disco pra escutar à noite e escrever no outro dia de manhã não poderia resultar em críticas aprofundadas, mas resenhas. “Sempre tive resistência a que me chamassem de crítica por causa disso: fazia resenha”, diz Adriana. “Sempre fiz com mais liberdade crítica de show, de evento, de festival, em que a música é apenas um componente. De discos fiz muito menos.”
“Show acontece uma noite e pronto. Amanhã pode ter outro melhor ou pior. Então, você faz uma avaliação do que viu naquele momento. O disco fica, vai ficar. E crítica, mesmo que muito pensada, tem de ser feita na hora no jornal, sem muita capacidade de deixar amadurecer a opinião. E às vezes nossa percepção pode ir mudando com o tempo”, diz Galilea.
Tanto muda a opinião que discos execrados pela crítica no passado, como Araçá Azul (1973), de Caetano Veloso, e Cantar (1974), de Gal Costa, hoje são incensados como clássicos. Em seu blog Notas Musicais, que manteve de 2006 a 2016, Mauro Ferreira, hoje colunista titular de música no portal G1, reconheceu publicamente ter feito avaliação precipitada do trabalho de estreia de Tulipa, Efêmera (2010), e se retratou.
Certos critérios dão sinal de que hoje a crítica é mais condescendente com o que pode soar apenas mediano aos ouvidos mais exigentes, seja do mainstream da MPB que já não vive suas glórias ou de outros considerados “popularescos”. Gostar indistintamente do raso, do trash, do inconsistente, do efêmero (nada a ver com os exemplos acima) é simpático, democrático, politicamente correto, parece moderno. Corre-se menos risco de criar incômodos no calor do imediatismo se a crítica for “fofa”.
A maioria dos críticos não tem hábito ou tempo de frequentar o ambiente de shows, principalmente de bandas e artistas novos. Geralmente dão as caras em estreias de temporadas de medalhões e festivais. A crítica no jornalismo de gabinete é outro ponto comprometedor da profissão. Com todas as facilidades tecnológicas disponíveis, não se pode avaliar um artista ou banda só pelas gravações, é fundamental ver ao vivo. E mesmo assim alguns se valem de truques que podem ludibriar até os mais atentos. Nesse jogo, muitos seguem enganando uns aos outros.
Um preocupante dilema dos jornais conservadores era o de estimular a renovação de seus leitores, que naturalmente envelhecem, morrem e vão minguando como as próprias publicações. A linha editorial, incluindo as pautas culturais, em grande parte segue voltada para esse público um tanto avesso a novidades. “Dentro de um grande jornal, descobrir alguma coisa do underground dá charme, mas a nossa visão é mainstream. Emplacar um novo artista na capa de um segundo caderno é cada vez mais difícil, e você se cerca de argumentos para dar destaque”, diz Silvio Essinger. “O processo do artista novo que se consagra começa na internet, se desenvolve um bom tempo ali até chegar na gente. Quando damos matéria no jornal já está no limite. Não alimentamos mais esse processo no nascedouro, como se fazia antigamente.”
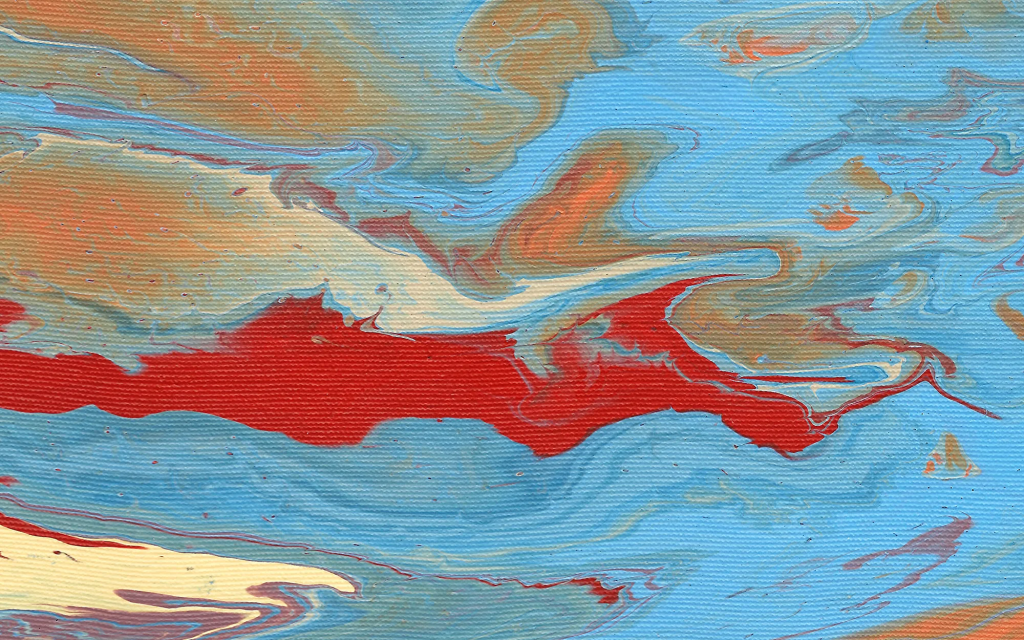
Nessa brecha é que entram as “brodagens” nas produções, no compartilhamento em redes sociais, nos projetos de financiamento coletivo (crowdfundings) e no jornalismo solidário. A sigla dessas ações é o TMJ = tamojunto. No fundo, é a exposição de uma prática há muito vigente no jornalismo impresso: a ação entre amigos. A chance de um assessor emplacar matéria sobre uma produção de segunda linha é bem maior se ele também detiver a conta de um peixe graúdo, um medalhão da MPB. É o que mais interessa ao editor que ouve música de orelhada apenas.
A partir do início deste século a tendência evidente é a de confrontar o modelo antigo por força das circunstâncias apontadas acima. Com passagens pela Folha de S. Paulo e pela revista Rolling Stone, Marcus Preto deixou o jornalismo para dirigir artistas como Tom Zé e Gal Costa. Em 2011 foi protagonista de uma peleja com Álvaro Pereira Junior, que atacou a relação de artistas com a imprensa — o que para muitos passou a ser algo natural.
De tanto frequentar shows, festivais e audições de discos com a presença de músicos e cantores (os mesmos que se encontra na plateia de outros colegas), integrar comissões de prêmios, editais e programas de incentivo como jurados, prestar consultoria e fazer curadoria de projetos musicais, os jornalistas acabam se envolvendo com o meio artístico. E de uma maneira ou de outra pesa o gosto pessoal.
“Era divertido escrever, pensar sobre o disco. Nunca falei mal de um disco que eu gostasse, embora o jornal quisesse isso, e também nunca falei bem de um trabalho que eu não gostasse”, lembra Preto. “Mas nunca me envolvi em produção enquanto atuava no jornalismo.”
Na atual era da pós-verdade, em que o achismo suplantou os achados e imperam agressões e achincalhes sem fundamento, o público é quem mais faz o papel de crítico, no sentido inverso, protegido pelo anonimato virtual, e também se arma contra qualquer ressalva feita aos artistas de quem são fãs. Porém, a vaidade de muitos ainda quer o aval de quem tem credibilidade no jornalismo cultural, desde que seja em tom de bajulação incondicional. Na “sociedade do elogio mútuo”, como acentuou Paulo da Costa e Silva em provocador artigo na revista Piauí em fevereiro de 2015, “talvez o ponto mais crucial […] seja o risco de desaparecimento da sinceridade sob a máscara da lisonja fácil”.
A crise que afetou os gigantes da mídia no final da década de 1990 levou ao sucateamento das redações, com a dispensa de profissionais tarimbados, substituídos por “focas” (os novatos inexperientes), que pesam bem menos no orçamento. Se o jornalismo desceu de nível é porque os salários dos jornalistas também baixaram, como aponta Galilea. “Sem independência financeira você não tem tempo para pesquisar, estudar, se aprofundar, tem de trabalhar. E isso é na sociedade em geral. O poder econômico tomou conta dos jornais, acho que no mundo inteiro. Parte da crise no jornalismo tem a ver com isso, com essa concentração de poder econômico e político. Você não está lendo um jornal, você está lendo o que assessorias de bancos e partidos políticos querem que você leia”, diz Galilea.
Ao mesmo tempo as redes sociais propiciaram a inflação de bolhas em que aflora uma “facção do amor” contra a “cultura do ódio” propagada pelos intolerantes, seja por polarizações políticas, por obscurantismo religioso, por preconceitos de princípio racista, machista, sexista. Repórteres da nova geração (um tanto deslumbrados com as borboletas sem pensar na voracidade das lagartas) dão a entender que a orientação hoje é mesmo a da boa vizinhança: ninguém faz críticas negativas dentro de um panorama de imparcialidade zero, em que o compromisso com o furo depende da amizade do jornalista com o dono de um selo de discos, por exemplo.
“No meio artístico anda todo mundo muito sensível, é a loucura do protagonismo”, diz Rodrigo Carneiro. Locutor publicitário, cantor e letrista da banda Mickey Junkies e integrante do grupo literário Trovadores do Miocárdio, Carneiro tem passagens pela área de cultura nos jornais O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e revistas Bravo! e Rolling Stone, entre outros veículos. Hoje escreve muito pouco.
“Questiono justamente a ausência de opinião numa imprensa que era marcada por isso”, diz Mauro Ferreira. Já nas redes sociais, em que todo mundo opina a torto e a direito, para ele “qualquer palavra que um jornalista escreva é perigosa”. “Parei de fazer comentários mais abrangentes como simples espectador de novelas, que eu adoro, porque estava sendo interpretado como crítico de novela, o que não sou. É um exemplo de como um jornalista não tem direito a um perfil pessoal”, diz.
É comum artistas, assessores e donos de selos assediarem jornalistas em redes sociais com pedidos para ajudar a “divulgar” os trabalhos em que investem. Produtores de eventos (alguns deles ligados ao jornalismo) “convidam” profissionais para trabalhar de graça para eles, numa acintosa demonstração de falta de respeito. “Agora, de qualquer forma, a questão central não é essa. As pessoas estão com medo, porque o assessor, o produtor, os artistas estão no Facebook, então a pressão é violenta. A crítica, diante disso, está sem cacife, diluída. Acho isso lamentável, porque perdemos todos”, diz Mauro.
Para Luiz Chagas, a classe também contribuiu para a degradação do crítico. “Todo mundo que tivesse algum pendor literário passou a escrever crítica, que virou adjetivação, nada é embasado. É totalmente sonhador você imaginar que isso possa mudar”, diz Chagas. Quando trabalhou na Folha de S. Paulo em cargo de chefia, Adriana Ferreira teve problemas com um crítico que só falava bem dos artistas com quem convivia. “Isso também é uma questão que tem de ser avaliada. O jornal deve tomar uma posição, senão perde a credibilidade”, diz.
O poder do crítico de música, porém, sempre foi relativo. Há casos de artistas talentosos, alguns até consagrados, que não conseguem lotar um teatro de 200 lugares, nem aparecendo nas capas dos segundos cadernos. Na História do jornalismo cultural não há registros de que alguma carreira de artistas da música tenha sido comprometida por causa de críticas negativas. É bem diferente de uma crítica de teatro, que pode arruinar a carreira de uma peça na semana seguinte à estreia.

Personalidade em evidência no cenário da música independente em São Paulo, Roberta Martinelli, radialista, produtora e apresentadora de televisão (Cultura), recentemente estreou como colunista na imprensa escrita (no jornal O Estado de S. Paulo) e enfrenta uma série de obstáculos. “Ainda não encontrei um formato para o meu texto, só sei que não acho bom seguir modelos antigos. Jornal é um veículo velho, estou achando muito estranho”, diz Roberta, que dá a sua coluna um toque de leveza, opinando com entusiasmo sobre artistas de quem gosta, em primeira pessoa — e por isso é criticada por colegas. “Agora, não é uma recomendação no jornal nem uma aparição no meu programa que vai fazer uma banda fazer sucesso se o trabalho já não estiver desenvolvido, se não for bom. É o contrário. Talvez hoje a gente precise mais dos artistas talentosos de quem falar, do que os outros precisem de nós.”
Roberta também sente a ação corrosiva do machismo velado que impera nas redações. Ana Maria Bahiana é uma das raras mulheres que se tornaram referência no jornalismo musical. Claudia Assef e Adriana Ferreira ficaram sempre com a parte da crítica e das coberturas de eventos que nenhum homem queria fazer, como a cena eletrônica, o rap, o rock brasileiro. De repórter, Adriana rapidamente passou a cargos de chefia. Atualmente é editora digital e de Cultura da revista Marie Claire. “As mulheres sempre se deram melhor em cargos operacionais, agora é evidente que os investimentos maiores dos veículos sempre foram voltados para os homens.”
Especializada em música eletrônica, Claudia Assef é autora do livro Todo DJ Já Sambou, referência importante sobre essa cena musical brasileira, e se tornou DJ, mantém um blog e programa de rádio. Ela também está escrevendo a biografia de Sônia Abreu, pioneira DJ e pesquisadora de música do mundo, e realizou recentemente um bem-sucedido evento em torno da mulher na música em São Paulo, o WME (Women’s Music Event).
Racismo e preconceito com idade também têm peso numa atividade “em que o capital é o conhecimento e você acaba sendo punido por isso”, como diz Carneiro. “O jornalismo atual nada mais é do que o reflexo da tragédia brasileira. A solução é que se volte ao diálogo, não à palestra.” A opinião de Galilea talvez seja saudosista, não objetiva. “A propagação de blogs, redes sociais e imprensa digital mudou tudo. Se é bom ou ruim para a música não saberia dizer. Agora, foi péssimo para os salários de quem trabalhava no jornalismo musical no final do século 20. As pessoas mais jovens não podem viver desse trabalho.”
Os mais velhos também não poderiam se manter apenas com isso, recebendo um terço do salário de dez anos atrás. Se muitos se beneficiaram da função de crítico para evoluir dentro do mercado de música, em atividades paralelas, muitos já deixaram de lado a prática jornalística e contribuem para a bibliografia nacional com livros memoriais, de entrevistas e análises, ou com programas de pesquisas e audiovisuais ligados a instituições culturais. É o caminho que seguiram José Ramos Tinhorão, Tárik de Souza, Ricardo Alexandre, Arthur Dapieve, José Teles, Tom Leão, Zuza Homem de Mello, entre outros.
Com o tempo, o volume de trabalho, a repetição do movimento e as pressões de todos os lados (seja de chefes, artistas, assessores, divulgadores) provocam estafa e irritação.
“Um colega jornalista, que já morreu, um dia me disse que de tanto escrever crítica de discos e shows estava detestando música. Comecei a sentir isso também. Agora que deixei de escrever estou começando a curtir música de novo, muito mais do que antes. Estou escutando com prazer. Não poderia viver sem música, pra mim é muito importante. Quando se chega a esse ponto é melhor mudar de atividade”, diz Galilea.
“A situação que vivemos é exclusiva da imprensa musical”, aponta Mauro Ferreira. “A crítica de teatro, de cinema e de televisão continua.” No caso da música, é muita coisa pulverizada na web sem rédea. Há artistas demais para público de menos, como bem lembrou o compositor Luiz Tatit recentemente. “Quem nos lê é um público restrito, incluindo muita gente do meio musical, que gosta das mesmas coisas. O público comum, que não é o adorador de música, vai na onda do sucesso. E não está errado. Quem errou fomos nós. É esse público que precisa ser conquistado pelos jornais, pelos artistas, pela televisão, pra que essa roda gire e dê dinheiro, inclusive, para essas pessoas”, aponta Marcus Preto.
Tão incerto quanto o mercado independente da produção musical é o futuro da crítica. Como filosofou o compositor e poeta Paulo Cesar Pinheiro, “quem não sabe a ciência do samba vai fazer o que pede o momento/ o segredo da força do samba é a vivência de seu fundamento”. É uma boa metáfora para ser usada nesse caso. Para Galilea, a crítica de música já morreu, só os críticos talvez não aceitem o fato. Num cenário em que as assessorias praticamente pautam as redações de jornais e revistas (as poucas que restam), distribuindo press releases excessivamente edificantes, cheios de adjetivos vazios, inúteis — que são replicados por blogueiros à exaustão –, reverter a situação talvez seja impossível.
“Há um bom tempo a crítica musical foi trocada por curadores informais que não necessariamente são jornalistas”, observa Claudia Assef. “Se antes as pessoas as pessoas liam críticas de uma Ana Maria Bahiana, de um Pedro Alexandre é porque tinham afinidade com o estilo musical deles, mas também se identificavam pelo estilo de texto. Hoje já não se faz mais isso. Todo mundo que conheço dessa área tem um plano B. Não há quem consiga trabalhar num veículo apenas. Ou as pessoas tocam como DJ, ou têm um bar, ou escrevem livros, prestam consultoria, alguma coisa desse tipo para tocar a vida. Acho que a tendência é essa.” Adriana também acha que a saída é o jornalista “se espalhar e usar o background para fazer outras coisas relacionadas à música, porque crítica não dá mais”.
Calado tampouco vislumbra horizonte nesse panorama. “A crítica jamais vai voltar a ser o que foi. Até pelo fato de o ambiente que possibilitava você ter uma crítica como deve ser feita, com tempo e espaço para reflexão, não existe mais”, diz. Crítico especializado em jazz e música negra, instrumental e brasileira, Calado trabalhou na Folha de S. Paulo, coordena projetos de coleções de CDs da Publifolha, é autor de livros sobre Mutantes, Tropicália, jazz e bossa nova e mantém o blog independente Música de Alma Negra, sem nenhum patrocínio.
“A música hoje concorre com muita coisa, é uma parte da rede social das pessoas. O grande sistema de distribuição de música, o Spotify, na verdade é uma rede social”, diz Silvio Essinger. “A grande mudança e com qual a gente vai ter de lidar é que na época em que a gente começou a ouvir música pra valer, o gosto musical definia o caráter, a visão de vida da pessoa. Hoje não. Apagou-se na música o caráter ideológico, a perspectiva histórica.” Para ele, o mais provável é que se chegue a um outro tipo de texto opinativo que não seja nesse formato crítica tradicional que se conhece. “O que será não se sabe, mas de alguma forma a opinião vai ter de se infiltrar ali, até porque é a opinião que qualifica o produto.”
“A crítica no jornal é importante para posicionar um artista no mercado dando-lhe prestígio ou não. Agora, não adianta um só falar. É preciso que vários ao mesmo tempo reconheçam o valor do artista. Elza Soares tem prestígio, tem uma carreira bem-sucedida, mas foi de novo alçada ao primeiro time pela crítica [parte substancial dos críticos de renome elegeu A Mulher do Fim do Mundo como o melhor disco do ano de 2015]. Esse papel ainda ninguém rouba”, conclui Mauro Ferreira. E o debate continua…
Utilizamos cookies essenciais para personalizar e aprimorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando você concorda com estas condições, detalhadas na nossa Política de Cookies de acordo com a nossa Política de Privacidade.