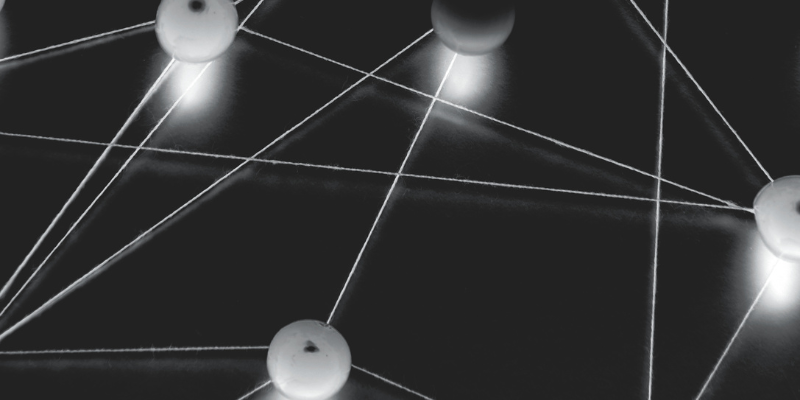
A incontestável diversidade cultural e pluralidade de expressões artísticas que constituem o Brasil ainda é questionada por políticas culturais que, identificadas com a “síndrome do patinho feio”, reforçam um pensamento eurocêntrico. Afinal, o que é cultura e por que se perpetuam medições, como alta ou baixa cultura? Seria o funk menos merecedor de incentivos que a música popular brasileira? Estariam em desvantagem a promoção e a preservação de festas populares, como o Maracatu Rural em Pernambuco, por leis de incentivo à cultura? Diante desses obstáculos, o trabalho de gestores culturais encontra-se permanentemente em um território de disputa.
“A cultura periférica, as expressões culturais tradicionais e as práticas artísticas que fogem a um determinado cânone, por vezes, ficam à margem dos recursos, reforçando desigualdades históricas. Superar esse modelo requer uma abordagem que privilegie a participação das diversas comunidades de fazedores de cultura na definição e implementação das políticas culturais”, aponta José Veríssimo Romão Netto, mestre e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo (USP), pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP). Netto ainda confirma que para uma mudança nesse cenário, “essa discussão requer uma dupla reflexão: o que entendemos por ‘cultura’, e que mecanismos institucionais têm sido utilizados para promover as políticas culturais?”, questiona.
Por isso, “a gestão da cultura mora nesse fio de navalha entre reiterar violências e alimentar potências”, observa Ivan Montanari, mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo (USP) e especialista em Gestão e Políticas Culturais pela Universidade de Girona (Espanha). “É fundamental compreender qual é a relação com o público que a gestão cultural promove: busca impor um modelo ou cria condições de autonomia para que este público defina suas próprias necessidades e alcance seus próprios fins? De que posição essa relação se dá: há uma visão horizontal com o público ou essa relação é hierárquica, de cima para baixo, como “quem tem cultura x quem não tem?” Essas são questões que vão do autoritarismo colonialista de [Marquês de] Pombal à liberdade de artistas de rua para performar sua arte; da ideia de levar cultura a de fomentar culturas, no plural”, conclui. Neste Em Pauta, Montanari e Netto trazem conceitos, práticas e desafios no cenário da gestão cultural no Brasil.
Por Ivan Montanari
Gestão cultural é um conjunto de práticas de planejamento, organização e direção, voltadas para a cultura. Falar de gestão cultural, então, implica falar sobre cultura. Cultura é um conceito muito abstrato e com muitos significados diferentes. Em alguns círculos sociais, por exemplo, cultura tem uma conotação positiva e costuma ser entendida como algo elevado. Essa visão concebe a cultura enquanto belas-artes: as linguagens artísticas de tradição europeia (como teatro, dança, música, artes visuais etc.). Aquilo que não se enquadra nessa ideia pode ser entendido, por esse olhar, como folclore, primitivo ou vulgar. De outro lado, há uma visão ampla, comumente referida como antropológica, na qual cultura aparece em oposição à ideia de natureza, relacionada com tudo que é próprio da humanidade, suas formas de viver e de se organizar. A amplitude desse sentido leva a um número praticamente infinito do que seria obra, expressão ou bem cultural: da linguagem e formas de culto a biotecnologias e estações espaciais.
A verdade é que deve haver teses e teses de doutorado buscando uma definição para o termo. As ideias são muitas – e, por vezes, contraditórias entre si. Quando falamos de gestão cultural, esbarramos nessa dimensão múltipla: trata-se de uma prática com uma gama imensa de possibilidades de ação. Assim, a gestão cultural é bastante subjetiva: envolve uma forma particular de perceber um contexto, uma realidade social, e de se difundir ou promover determinadas estéticas, fundamentos e valores. É a partir dessa visão que o gestor cultural propõe algum tipo de ação. Essa forma particular de enxergar um contexto e sugerir uma proposição nem sempre é bela ou boa – também existem culturas nocivas para outras pessoas, para o meio ambiente etc. A imagem da cultura como algo elevado ou sublime é parcial e não dá conta das infinitas possibilidades de produção cultural.
No que se refere ao Estado, especialmente quando não há um órgão voltado à área, a gestão da cultura pode ser difusa. No entanto, se entendemos a língua como um bem cultural, em 1758, ainda no Brasil colônia, houve uma ação estatal que se enquadra como gestão da cultura: a proibição de outras línguas que não o português nos territórios da colônia, assinada pelo Marquês de Pombal (1699-1782). Foram proibidas as línguas de origem dos diversos povos indígenas e africanos, além das originadas da mistura entre essas e o português. Depois, nos períodos autoritários de Getúlio Vargas (de 1930 a 1945) e da ditadura militar (de 1964 a 1985), a gestão da cultura tinha a censura como uma das marcas mais importantes, embora esses mesmos regimes tenham desenvolvido formas de lidar com a cultura para além da censura, como a criação de órgãos específicos para a área (exemplos: Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de 1937, e Conselho Federal de Cultura, de 1966). Assim, uma mesma gestão cultural pode agir de mais de um modo à sua prática.
No Brasil de hoje, a gestão cultural é praticada por instituições públicas (federais, estaduais e municipais), entidades do sistema S e do terceiro setor, empresas ou pessoas e coletivos, mais informalmente. Incluem-se em empresas, os canais de TV ou rádio, as redes sociais e as plataformas de streaming. Cada um desses agentes possui uma determinada visão do contexto, do que entende por cultura e do que considera uma ação válida nesse sentido. Independentemente disso, e olhando para um contexto democrático, a prática da gestão cultural envolve diferentes funções (com ideias do professor catalão Alfons Martinell): curadoria e definição das ações culturais a serem desenvolvidas; produção, organização e planejamento para operacionalizar as ações; funções de projeto (criação do documento, mobilização de equipe, captação de recursos e desenho dos conceitos); funções de mediação ou intermediação entre criadores e público, e entre esses e os demais envolvidos, como patrocinadores e instituições; administração na lida com contratos, regras, leis, burocracias, recursos humanos e financeiros; facilitação, provendo os meios para que outros agentes alcancem seus fins, sem administrar os conteúdos, como a cessão de espaços; e funções criativas e inovadoras, com a capacidade de improvisação e de realizar coisas em formatos diferentes.
A imagem da cultura como algo elevado ou sublime é parcial e não dá conta das infinitas possibilidades de produção cultural
As ações culturais desenvolvidas por gestores de cultura podem ser divididas em: criação ou produção, quando se trata de uma nova obra de cultura; preservação ou conservação de obras já existentes; difusão, espalhamento ou exibição de obras, possibilitando assim o contato com o público; e formação, como cursos, oficinas, residências ou outros formatos. Também vale perceber a maneira como essas ações são definidas e realizadas: se há algum tipo de diálogo ou consulta pública; se essas definições se dão a partir de metadados, algoritmos e big data; se a execução se dá de maneira mais direta pela gestão ou se é realizada a partir de parcerias, podendo incluir transferência de recursos etc.
No entanto, essa classificação não aborda os conteúdos, ou seja, o que será criado, preservado, difundido ou objeto de ações de formação. Isso é definido pela gestão: por sua visão de cultura e sua percepção do contexto social em que as ações ocorrerão. Também a maneira de tomar a decisão é definida pela gestão cultural. Não há gestão cultural neutra, porque a definição de cultura, neste âmbito, passa sempre por uma dimensão subjetiva. Podemos, no entanto, elencar algumas tensões implicadas nessa decisão: pensar a partir da diversidade cultural ou focar em determinadas expressões culturais? Lidar com questões locais ou globais? Focar nas obras do presente, do passado ou que inovam e apontam para o futuro? Promover expressões de cultura que podem ser entendidas como cânones ou fazeres culturais marginalizados/alternativos? Valorizar o produto final ou os processos de criação? Difundir o que vem de fora ou promover expressões locais?; entre outras questões. A definição, no caso da gestão cultural, está envolvida em um processo de (re)afirmar, questionar, resgatar e propor novos valores culturais em relação ao público para o qual suas ações se destinam.
Por último, é fundamental compreender qual é a relação com o público que a gestão cultural promove: busca impor um modelo ou cria condições de autonomia para que este público defina suas próprias necessidades e alcance seus próprios fins? De que posição essa relação se dá: há uma visão horizontal com o público ou essa relação é hierárquica, de cima para baixo, como “quem tem cultura x quem não tem”? Essas são questões que vão do autoritarismo colonialista de Pombal à liberdade de artistas de rua para performar sua arte; da ideia de levar cultura a de fomentar culturas, no plural. A gestão da cultura mora nesse fio de navalha entre reiterar violências e alimentar potências.
Por José Veríssimo Romão Netto
“– Ai! que preguiça!”. Há quem defenda que Macunaíma é um herói caleidoscópico em razão de suas faltas, disse Carlos Sandroni em Mário contra Macunaíma (Edições Sesc São Paulo, 2024). “Herói sem nenhum caráter”, Macunaíma não seria bom nem ruim, o que permitiu a Mário de Andrade (1893-1945) fazer uma crítica cultural contra a ideia de que o Brasil seria composto por várias faltas, manifestas em suas eternas incompletudes. Incompletudes retratadas ao avesso por Richard Morse (1922-2001) em O espelho de próspero (1982), ao defender um iberismo ainda encantado, não contaminado pela modernidade. A tradição conservadora do pensamento brasileiro sustentou a ideia da falta de uma cultura política nacional, apontando que, ao contrário das culturas europeias, o Brasil nunca teria tido seus druidas deliberando sob a sombra dos carvalhos e, assim, jamais estaria apto ao autogoverno, como ponderaram Visconde do Uruguai (1807-1866) e Oliveira Vianna (1883-1951).
Pensar em políticas culturais no Brasil é, em parte, enfrentar essa longa narrativa das supostas faltas que nos teriam constituído. Nesse contexto, o debate atual sobre a gestão de políticas culturais se reveste de uma urgência particular: como seguir na trilha da promoção de políticas culturais que reconheçam e valorizem a pluralidade brasileira, resistindo a discursos que tentam ler nossa produção cultural pela lente da falta? Essa discussão requer uma dupla reflexão: o que entendemos por “cultura”, e que mecanismos institucionais têm sido utilizados para promover as políticas culturais?
É importante começarmos pela evidente diversidade cultural e de expressões artísticas brasileiras. O Brasil é um país de contrastes: das tradições indígenas às manifestações afro-brasileiras, das expressões amazônicas aos modos de vida sertanejos, das culturas urbanas periféricas aos diversos festejos religiosos. É verdade que discursos que evidenciam essa pluralidade têm influenciado as políticas públicas de cultura no Brasil, e essa pluralidade tem sido manifestada em diversos aspectos dessas políticas. Todavia, também é notório que ainda há acordes dissonantes que questionam manifestações artísticas a partir de aspectos que podem ser associados à narrativa da falta: a falta de “moralidade” em performances artísticas consideradas mais “ousadas”; a ausência de “valor cultural” em expressões artísticas periféricas; e a “falta de tradição” em movimentos culturais contemporâneos e urbanos, como as batalhas de rima e o pixo. Quem nunca ouviu: “Isso não é arte”; “Fulano não tem cultura”?
Como seguir na trilha da promoção de políticas culturais que reconheçam e valorizem a pluralidade
brasileira, resistindo a discursos que tentam ler nossa produção cultural pela lente da falta?
Acerca dos mecanismos institucionais que governam as políticas culturais, nota-se uma tensão entre uma visão gerencialista da cultura, que mede seu valor em termos de resultados e produtos entregues, e uma abordagem mais horizontal, que entende a cultura como um processo em rede. Por um lado, há os que defendem que uma política cultural eficaz deve ser planejada e avaliada com base em métricas claras, como o número de atividades culturais realizadas e a distribuição dos recursos investidos. Por outro, há quem argumente que essa visão reduz a cultura a uma mercadoria, ignorando a riqueza e a complexidade das expressões culturais.
Uma leitura possível é a de que a visão gerencialista tem uma proposição a partir de uma percepção da falta. Deve-se levar a cultura onde não há cultura; elevar o número de espetáculos na cidade; aumentar a quantidade de pessoas formadas em diversas expressões artísticas; e aumentar os gastos na área. Promover políticas culturais, na minha opinião, nunca é um equívoco. Errado é pensar em políticas culturais, exclusivamente, a partir do “quanto” sem incluir “com quem” e “para quê”.
Essa tensão se manifesta, por exemplo, na forma como se conduz a política de editais. Programas como o ProAC, em São Paulo, representam uma tentativa de promover uma gestão cultural que contemple a diversidade, mas acabam reproduzindo uma lógica de competição e de avaliação que nem sempre são sensíveis às singularidades culturais. A cultura periférica, as expressões culturais tradicionais e as práticas artísticas que fogem a um determinado cânone, por vezes, ficam à margem dos recursos, reforçando desigualdades históricas. Superar esse modelo requer uma abordagem que privilegie a participação das diversas comunidades de fazedores de cultura na definição e implementação das políticas culturais.
Políticas culturais que favoreçam a lógica da governança em rede, diferentemente de um modelo que premia a competição, promovem espaços para que as redes definam suas agendas culturais. A luta por uma gestão cultural plural também precisa enfrentar a hegemonia do pensamento eurocêntrico. Museus, galerias e outros espaços culturais, por vezes, operam sob uma lógica de valorização da arte e da cultura baseada na falta. Como abrir espaço para que as culturas indígenas, quilombolas e outras brasilidades sejam reconhecidas e valorizadas pelo que têm a oferecer? Esse rompimento passa por esferas como o genuíno financiamento dessas expressões pelas elites econômicas para além da pontual renúncia fiscal; pelo aumento da diversidade nos seus conselhos curadores; pela democratização do acesso aos espaços; e, fundamentalmente, pela criação de espaços de participação compostos pela comunidade fazedora de arte e pela sociedade, consumidora de arte.
A gestão das políticas de cultura é um espaço do fazer político. A cultura é um espaço de disputa e contestação. Uma gestão cultural plural é, em última análise, uma ação política que combate a narrativa da falta ao preencher os espaços do fazer cultural com a diversidade brasileira, sem mirar-se no opaco espelho do Norte, que reflete apenas sua própria imagem. Esse fazer cultural não é estar alheio ao debate e à produção cultural com potencial de internacionalização ou, ao contrário, com exclusiva proposta regionalista. Políticas culturais diversas e inclusivas contribuem com a cultura a partir do Sul Global, implicando não apenas reconhecer vozes periféricas, mas criar estruturas que permitam sua expressão e protagonismo.
Uma gestão plural de políticas de cultura passa pela construção de políticas que reconheçam a cultura como um processo vivo e diverso, que não pode ser reduzido a métricas ou a proposições narrativas de falta. Ao abrir espaço para as múltiplas formas de expressão que compõem a cultura brasileira, as políticas culturais conversarão com o mundo de maneira polifônica, tomando parte em um caleidoscópio, como Mário de Andrade buscou representar. Dessa maneira, os números chegarão, com artistas e plateias satisfeitas em se reconhecer, e contarem ao mundo, em conjunto, quem são.
Utilizamos cookies essenciais para personalizar e aprimorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando você concorda com estas condições, detalhadas na nossa Política de Cookies de acordo com a nossa Política de Privacidade.