
Willy e a implosão da música como linguagem, por Regina Porto
Regina Porto — Compositora, documentalista, ensaísta e agente cultural. É mestranda em Música pela Unicamp e em Ciência da Informação pela USP. Foi produtora e diretora da Cultura FM de SP, editora de música da revista Bravo!, curadora de concertos do Instituto CPFL e documentarista do Acervo Osesp. Suas áreas de interesse incluem artes acústicas, memória documentária e políticas de dados abertos. Conduz o projeto independente Ludovica® OpenMusic, pesquisa os manuscritos do Acervo Koellreutter e estuda a obra de Debussy. É bolsista CAPES pela USP.
ilustrações por Alexandre do Amaral — Ale Amaral é pai da Laura e continua insistindo ser designer e músico. Trabalha no Sesc São Paulo desde 2004, atualmente como designer gráfico no Selo Sesc. Toca bateria no barulhento duo Bugio e em projetos de Improvisação Livre. É Capricórnio, mas com ascendente em Peixes.
Artista sem pares. Pensador de estirpe. Músico central — e fora do eixo. Gênio? Louco? A publicação deste manuscrito, engavetado por mais de uma década, recupera a trajetória desviante do ultramarxista Willy Corrêa de Oliveira (Recife-PE, 11 de fevereiro de 1938), compositor que fez história na música erudita brasileira, abriu combate contra o chamado sistema, deu tchau às vanguardas de estimação e cavou a própria bonança em vida — não sem antes infernizar meio mundo, dentro e fora da academia, a começar pela USP. Relato em forma de Réquiem, em seis movimentos de época, originais de 2008.

Leia também: Parte 1 | INTROITUS, Parte 3 | DIES IRAE, Parte 4 | CONFUTATIS e Parte 5 | OFFERTORIUM e Parte 6 | LIBERA ME

Até 1979, Willy e cia. formavam uma aliança coesa. Um laço que se estreitara, havia coisa de duas décadas, na “amizade diária” do compositor santista Gilberto Mendes, hoje patrimônio do mainstream da vanguarda, com quem desbravou mundos sonoros e criou memórias de vida; nos anos de aprendizado informal com Olivier Toni (“coração magnânimo, me ensinou tudo”), também ele coordenador de bienais de vanguarda e festivais de música antiga por décadas; e nas peregrinações a Darmstadt, na Alemanha, meca da Neue Musik, para onde acorriam na diligência de aulas com Boulez, Stockhausen, Berio, Pousseur. Anos de formação e companheirismo que Willy não renega. Selam essa unidade o Manifesto Música Nova, de 1963 (com Gilberto Mendes, Rogério Duprat e Julio Medaglia entre signatários), a criação de um festival homônimo (hoje rumo à 43ª edição) e a adesão dos poetas concretistas Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari (dos quais musicou poemas e traduções). Todos alinhados na frase de Maiakovski que ditou a constante da época: “Sem forma revolucionária não há arte revolucionária”.
Egresso de um currículo autodidata, aportado em São Paulo aos 20 anos e ingresso aos 33 como professor de composição na ECA-USP por notório saber em 1971, Willy personificava a proa intelectual dos novos mandamentos. A autoridade de sua erudição e vasta cultura, o vigor na intelecção, a cognição da ciência musical, suas sinapses rápidas e a prontidão na decifração dos códigos lingüísticos — à parte um temperamento genioso, uma vocação para a polêmica e um domínio inato das figuras clássicas de retórica –, fizeram com que sua imagem extrapolasse o espaço restrito das salas de aula e ganhasse projeção. Esquerdista ferrenho, dono de opiniões fortes, e igualmente formador e divisor de opiniões, não raro suas aulas febris atraíam ouvintes de outras disciplinas (letras, cinema, jornalismo) ou eram transportadas para outros cursos (como a psicologia).
“O Willy me reprovou por falta. Eu só poderia voltar pro curso um ano e meio depois. Não tive estômago.”
Os alunos, estes sofriam. Reprovava, esculhambava, rasgava partitura. “O Willy mexia com a cabeça dos alunos de maneira que os transtornava”, diz Beatriz Roman, pianista e sobrevivente de suas primeiras turmas de análise musical. Alto e muito magro, “fumando que nem um condenado, questionando todo mundo”, compunha figura altiva e soberba com calças à altura do tornozelo, um mosto de sotaque arraigado, óculos de armação grossa e um Fusca em estado lastimável. Em aula, aproximava música, filosofia, política, artes, antropologia, dialética materialista. Introduzia semiótica. “Música não diz nada, a sua semântica é a sintaxe”. “A linguagem musical tem códigos rígidos, é tipicamente indicial”. Vociferava. Exigia. “Com o Willy, as pessoas iam ou desistiam. Era uma peneira. Muitos se aprumaram”. Beatriz, por exemplo, “se aprumou”: bolsa na Alemanha, doutorado em Nova York, colaborações com John Cage, carreira nos EUA. Outros não tiveram igual sorte: abandonaram o curso, e alguns, com grande desgosto, até a música.

No ensino, era inclemente. “Se passa uma idéia-matriz, uma atitude, uma linguagem”, tenta explicar. “Mas não a música mesma, ou a composição”. Arrigo Barnabé, 56, foi de sua turma de composição de 1975. “O Willy adorava o Clara. Mas só me dava 9”, diz, ainda hoje inconformado, o autor de Clara Crocodilo. Arrigo debandaria da USP ao estrear profissionalmente, em 1979. “O Willy me reprovou por falta. Eu só poderia voltar pro curso um ano e meio depois. Não tive estômago”. Como tantos outros, passou poucas e boas nas suas mãos. (Numa comparação televisiva digna do Mensa International, seria como estar sob o jugo idiossincrático de um personagem imodesto, e insuperável, como Dr. House.) “Consegui diálogo melhor com Willy”, continua Arrigo, “nas peças cênicas, plásticas. Ou quando entrava na performance”. Com ressalvas.
Quando ainda rezava pela cartilha das vanguardas, uma das práticas obrigatórias de Willy era Aus den Sieben Tagen (Dos Sete Dias), obra de maio de 1968 que inaugura a fase “esotérica” de Stockhausen. A “partitura” se resume a aforismos inspirados na mística indiana (“Toque uma vibração no ritmo do universo. Ommm…”), em soporíferos mantras de improvisação que, entre outras bizarrices, exige solidão, silêncio, jejum e vigília por quatro dias e noites, findos os quais o músico deverá “tocar notas soltas”. Willy reduziu o exercício a uma noite de privação, Arrigo desistiu no meio da madrugada. Mas não escapou de improvisar, com alguma licença sincrético-antropofágica, as “forças universais maléficas” que a obra a certa altura pede. “Foi muito chocante. Eu entrava mijado, arrastado. O Ruardo [clarinetista] lambia o chão”, relembra, num riso desconfortável. “Uma coisa horrível. Perdi o controle, desmaiei. Fiquei mal um tempão”. Melhor lembrança de Willy? “Sua análise da obra de Beethoven, como trabalhava com fragmentos de escala e pensava estruturas”, responde. Ah, bom. “Quão sério levávamos”, suspira Beatriz.
“Hoje um homem na encruzilhada, parecendo tender mais para a musicologia do que para a composição.”
De fato, Beethoven, Proprietário de um Cérebro (1979, Perspectiva) foi um livro que positivamente abalou consciências. Ao inaugurar uma análise da estruturação da escrita musical com base na semiótica de Pierce, esse “roteiro para a escuta” foi um divisor de águas para quem quer que se pretendesse o título de compositor ou intérprete, como para a crítica e o leitor-ouvinte (o livro encartava um disco em 33 rpm com gravações de Caio Pagano — outro parceiro — ao piano). “Beethoven responde aos apelos da paixão com arquiteturas de idéias”, lê-se. Mais que um texto em prol de maior compreensibilidade de Beethoven, a obra beneficiava ampla compreensão da música. (E já sugeria: “O sistema musical é profundamente desonesto com os proprietários de cérebro”.)
Ensaísta reputado, compositor fecundo nos moldes radicais da vanguarda, a esse Willy pregresso muitos tiveram, por metonímia, como “proprietário de um cérebro” e “modelo num pedestal” (apud Jorge Antunes, compositor, em artigo raivoso de 1984 na Folha de S.Paulo, quando também o qualifica de “prostituta arrependida”). Epíteto existencialista, posterior à crise, viria como Stalker, o guia para a interioridade e espreitador de zonas obscuras de filme homônimo de Tarkovsky (em nota de programa do pianista José Eduardo Martins, MIS, 1990).
Havia, desde sempre, esse vulto de respeitabilidade como cercania, razão de as primeiras reações à reviravolta de Willy oscilarem entre a dúvida e a perplexidade, logo consumadas em total desorientação. De início poucos se deram conta do tamanho da encrenca por vir. Em verbete de 1980, o musicólogo e embaixador Vasco Mariz chega a auspiciar “muito futuro pela frente” para Willy Correia [sic], “artista dotado e de boa formação” e, com tato diplomático, “hoje um homem na encruzilhada, parecendo tender mais para a musicologia do que para a composição” (em História da Música no Brasil, Civilização Brasileira).
Encruzilhada? No segundo semestre de 1979, Willy já se declarara morto não só para a música contemporânea (“Não sou mais compositor”, esbravejava) como para a grande música erudita ocidental (friso dele atual). “Com toda a alma, eu quis matar a música”, diz, na difícil confissão de um ato de mortificação. Aulas de então tornam-se anti-aulas. Não há matéria que leve a sério, um só raciocínio que não conclua sem gargalhar. “Pinéu total”, resume. Findo o semestre, torturante para todos (“muita eletricidade, muitas fagulhas, um certo peso”), tem por solucionado um conflito: a contradição dialética entre Deus e materialismo histórico (“e em nenhum momento pus em dúvida nem um nem outro”, diz). Como? Em tese: “Para que exista uma dialética fundamental, é necessário um oposto fundamental. Se não, não é luta de contrários”. Por antítese: “Se eu quero mensurar a distância entre a minha casa e a tua, uso o quilômetro; daqui à lua ou a outra galáxia, outras medidas. Mas se duas paralelas se encontram no infinito, não vou mais ter uma medida que se adapte. Há medidas teológicas e há medidas mundanas”. Em síntese: “Os problemas de Deus são de Deus; os problemas do mundo são do marxismo”.
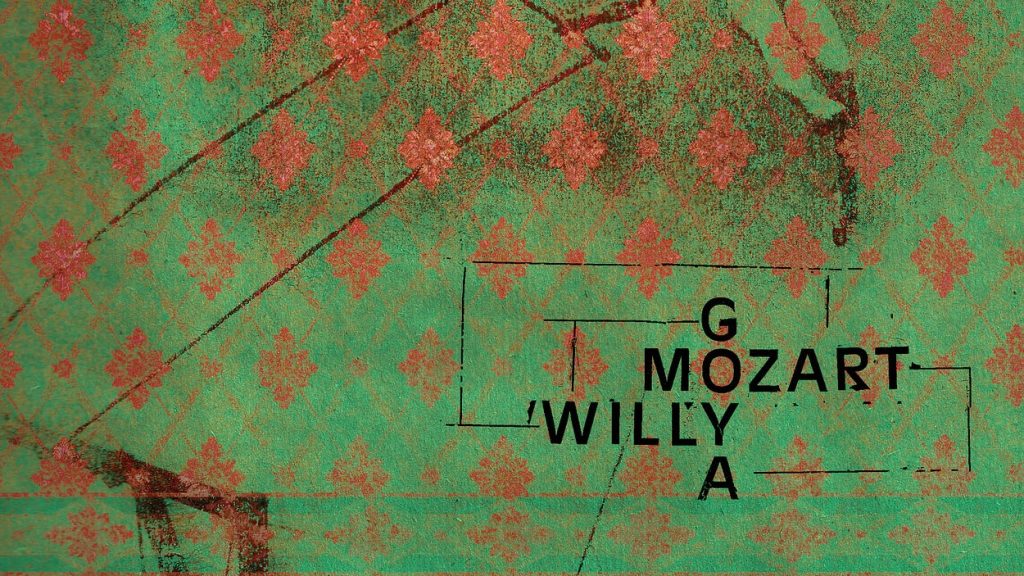
Alto verão, 2008. “Quer estarrecer-se?” Por favor. Willy oferece à visita o Concerto nº 17 de Mozart, piano e regência de Géza Anda. Faz soar o último movimento. “Mozart tem o demoníaco. Ouço com susto. Único cara que faz corpo com Goya, aquelas coisas negras. Não tem ninguém que faça essas coisas terríficas”. Partitura em mãos, sabe a obra de cor. Aponta realces, canta os contrapontos, rege antecipado. “E ainda dizem que é pueril, infantil. Puro Goya!” Marcha à ré, pula para o Andante, segundo movimento, nesse “adeus para todas as eras”, como diz. “Um arpejo e mais nada: você sente que cai no precipício”. A combinação Willy-Mozart é um contraste sem arestas. Escuta com a mente. Ausculta. “Toda hora te desnorteando… Mas depois te norteia outra vez… Com todo o diabolismo possível. Incrível, né?” Guarda o disco da Camerata de Salzburg. Dá vez ao Mozart de Sonia Rubinsky. “Veio pra ela. Com todos os fios da marionete”. Pinça o Rondó em lá menor, K 511, para piano. “Se você ouve Mozart, você sente como o homem reage”, diz. “É imantado das expressões mais diversas, desde a jovialidade até a tragédia mais irredutível do mundo”. A faixa termina. Cutucado sobre os mistérios mozartianos, considera: “A coerência vem sobretudo porque era uma consciência musical extraordinária. Fora ser uma consciência também humana, metafísica, demoníaca. Daimon como nunca vi igual”.
A proximidade com Willy faz pensar se ele também não tem um quê de daimon. Tão mais fácil quanto mais redutivo é qualificá-lo por parâmetros maniqueístas. Por conta dos primeiros anos de barulho, Willy é hoje nome reduzido a um valor de face barateado. Sabe disso. E parece se lixar para o “atestado ideológico” de superfície que ficou (“um tabu aqui, acolá…”) e para as pechas simplistas ainda vigentes — stalinista, jdanovista, fundamentalista, patrulhador e até louco. Como personalidade, Willy não é um fator, mas um complexo. E como artista pensante, uma mente cromática (até porque várias musas, e não só Euterpe, parecem assediá-lo). Uma categoria cada vez mais rara dos tipos intelectuais inesquecíveis.
“Adorno? Adorno é um dos caras mais desgostantes”
Homem pautado na dialética — “muito mais derivada do marxismo do que qualquer outro conceito específico durante a história da filosofia”, ele sublinha –, viveu sempre no poço das contradições. E nos extremos delas. Embora considere “redução dialética” o homem cuidar de si mesmo, credo como tal ele só tem a política. “Óbvio que o marxismo não podia usar as qualidades da Igreja, que foi cada vez mais se afastando da teologia”, sustenta. Num raciocínio paralelo, premissa “tão falsa quanto dizer que religião não tem a ver com mercado” seria, para ele, dizer que a vanguarda é contrária ao capital, como quer Theodor Adorno (1903–1969), o pensador de Filosofia da Nova Música.
“Adorno? Adorno é um dos caras mais desgostantes”, contesta. “Foca a questão [da indústria cultural] como um burguês foca. Não conseguiu superar a origem pequeno-burguesa. O fato de [a música] não estar no mercado não a exime do contágio burguês”. Mas a radicalidade da vanguarda não contraria a formulação música-mercadoria? “Não está no mercado? Não!”, diz ele, no que não será bem um acordo: “Porque para estar no mercado ela faz exigências”. E eis o nó da questão. É no pressuposto da “imanência burguesa” da música nova, e na divergência com o filósofo alemão, que Willy enfeixa todo o mosaico de sua tão controversa tese de doutorado. E escolhe fazê-lo sem o contraponto filosófico (Adorno, aliás, sequer é mencionado). Em lugar, concebe um quebra-cabeça.
Vale aqui a digressão antecipada, na tentativa de se entender a rota desviante que já germinava nessa cabeça excêntrica (i.e., fora do centro) quando dos primeiros anos de levante e anarquia. Em essência, é na razão inversa de lógicas pré-estabelecidas, e atando pontos dissociados, que Willy consegue montar um quadro crítico da música do século 20 como jamais. Demonstra o descompasso entre as “exigências de alta monta e gravidade” da música erudita (“educação, freqüentação, exames sédulos”) e o alcance ideológico dos interesses do capitalismo moderno. Relaciona o declínio da função social da música atual à sua conseqüente falência de comunicação com o público — logo, à ruptura da cadeia produção-consumo. “É mercadoria impertinente”, conclui. “Um alto investimento de baixo retorno”. Com o que, volta ao item inicial (arte X capital), mas por espiral.

Não que Willy esteja preocupado com o divórcio entre essa música e o mercado. O que o tira seu sono é o divórcio entre essa música e o público. Na sua diagnose, trata-se de abismo cavado pela própria atitude “burguesa” do compositor contemporâneo, investido que está da ideologia vigente (“O individualismo alucinante do capitalismo torna-se a medida de todas as coisas”) e legitimado que é pelo apanágio de uma arte classista (“a cada um a liberdade de ter seu dialeto”). “A música deixou de ser conjunto de signos de mútua compreensão”, diz. “Não se constitui mais como linguagem”.
Na tese, a primeira investida implícita de sua interpelação volta-se ao papa da modernidade, Arnold Schoenberg (1874–1951), o formulador do dodecafonismo — para Adorno, um “soberano”, para ele, pejorativamente, “o maior entre os compositores burgueses contemporâneos”. “Schoenberg é o único que foge à regra. Ele se inventou uma gramática. Uma grande língua que só ele fala, que não se universalizou. Fala sozinho. Loucos fazem isso também”. Mas a objeção não pára por aí.
“Eu não sinto que o silêncio seja uma plataforma de ação. Pode se uma escolha, uma opção.”
Willy alcança a jugular da cartilha do “progresso histórico da linguagem”, aplicada por Schoenberg e a Segunda Escola de Viena e tão defendida por Adorno e a Escola de Frankfurt. Desenvolvimento esse que, segundo Willy, teria por resultado a “Babel sem torre” de que dá testemunho hoje em dia: uma profusão de idioletos sem língua comum e sem ressonância no mundo real (“algazarra de loucos e diálogo de surdos”, dirá) e sem razão outra de ser senão prestar-se à vaidade de redutos privilegiados, ao interesse único de especialistas, ao culto à “genialidade” e a certa “imagem intelectual” da burguesia.
Como tese, é dissonância na dissonância, a dialética da dialética. E, de marxista para marxista, um documento “categoricamente anti-Adorno”. Em uma palavra: ultramarxista. Se a mensagem é pesada, e para a maioria, intragável, é por estridular como um alarme: pega no nervo de um impasse real, sensível a todos, num ponto que se prefere nem tocar. Acaba que taxar Willy de “reacionário” ou de “conservador” (ele, que já em 1979 depunha: “A Universidade falha se for uma entidade financiada para congelar uma ‘tradição cultural’”) torna-se um expediente cômodo: é livrá-lo (e livrar-se) do debate. “Você não silencia porque quer, mas por uma contingência”, diria na sessão de tese, a propósito de sua reclusão. “Eu não sinto que o silêncio seja uma plataforma de ação. Pode se uma escolha, uma opção”. Willy se cansou de ouvidos moucos.
Deduzidos seus quase vinte anos nessa reflexão, importante advertir que não foi com mesma segurança fundamentada que enfrentou o combate nos seus primórdios. Na escritura da tese, Willy demarcaria metaforicamente o território psicológico da gênese desse raciocínio — a crise primordial de 1979 — com a ajuda de Francis Ponge, em Fabrique du Pré (Fábrica do Prado): “Le lieu où l‟on couche son adversair, ou sur lequel on est couché par lui (…) car ce lieu de repos est aussi celui de la décision” [O lugar onde se derruba o adversário ou se é derrubado por ele (…) posto que o lugar de repouso é também aquele da decisão]. Foi num estado de prontidão apenas intuído que Willy adentrou o campo de batalha: em guerra consigo próprio, em guerrilha com o mundo.
Diga-se que a “crise de Prados” (com a licença do denominativo) não foi a primeira nem a última das passagens cruciais de Kairós. Anos antes, Willy havia queimado, literalmente, as partituras da imatura fase nacionalista. “Os nervos não agüentam”, diz, com cara de ranço, acerca de qualquer nacionalismo. Em 1979, decreta sua segunda morte simbólica –não por convicções, mas pela falta delas. “Eu duvidei!”, diz, num tom mais de desafio do que de ceticismo. Por essa época, se não repete a fogueira (“Hoje não renego nada”), faz pior: incendeia a música mesma e a noção de vanguarda. E o faz aos destrambelhos.
Se mérito ou delito, a História dirá.
Leia também: Parte 1 | INTROITUS, Parte 3 | DIES IRAE, Parte 4 | CONFUTATIS e Parte 5 | OFFERTORIUM e Parte 6 | LIBERA ME
Utilizamos cookies essenciais para personalizar e aprimorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando você concorda com estas condições, detalhadas na nossa Política de Cookies de acordo com a nossa Política de Privacidade.