
“Quando já existe, eu não faço: eu ouço.” Tormenta, calmaria e síntese de Willy, por Regina Porto
Regina Porto — Compositora, documentalista, ensaísta e agente cultural. É mestranda em Música pela Unicamp e em Ciência da Informação pela USP. Foi produtora e diretora da Cultura FM de SP, editora de música da revista Bravo!, curadora de concertos do Instituto CPFL e documentarista do Acervo Osesp. Suas áreas de interesse incluem artes acústicas, memória documentária e políticas de dados abertos. Conduz o projeto independente Ludovica® OpenMusic, pesquisa os manuscritos do Acervo Koellreutter e estuda a obra de Debussy. É bolsista CAPES pela USP.
ilustrações por Alexandre Amaral — Ale Amaral é pai da Laura e continua insistindo ser designer e músico. Trabalha no Sesc São Paulo desde 2004, atualmente como designer gráfico no Selo Sesc. Toca bateria no barulhento duo Bugio e em projetos de Improvisação Livre. É Capricórnio, mas com ascendente em Peixes.
Artista sem pares. Pensador de estirpe. Músico central — e fora do eixo. Gênio? Louco? A publicação deste manuscrito, engavetado por mais de uma década, recupera a trajetória desviante do ultramarxista Willy Corrêa de Oliveira (Recife-PE, 11 de fevereiro de 1938), compositor que fez história na música erudita brasileira, abriu combate contra o chamado sistema, deu tchau às vanguardas de estimação e cavou a própria bonança em vida — não sem antes infernizar meio mundo, dentro e fora da academia, a começar pela USP. Relato em forma de Réquiem, em seis movimentos de época, originais de 2008.
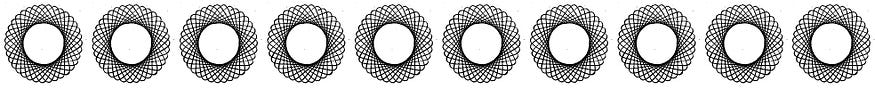
Leia também: Parte 1 | INTROITUS, Parte 2 | KYRIE, Parte 3 | DIES IRAE, Parte 4 | CONFUTATIS e Parte 5 | OFFERTORIUM
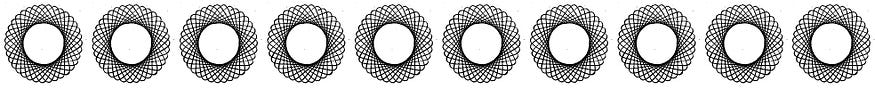
Com Willy, as ideias vão e vêm em turbilhão. Opiniões, idem. “Acho até que têm razão quando dizem que eu me desdigo”, comenta, num dia de especial humor. Willy é capaz de dar a volta ao mundo em treze minutos, tempo do segundo movimento da Sinfonia nº 4 de Charles Ives (1874–1954), de quem está lendo o autobiográfico Memos. “Deu vontade de reouvi-lo”, diz. “Mas nessa [sinfonia] eu empaquei. Não compreendo nada. Quer ver?” Willy esculacha a pobre de cara. “É um saco. Nem a avó dele, com todo amor que tinha por ele, poderia ter ouvido isso”. A música começa: uma simpática cacofonia orquestral. “É impressionante como não dá pra entender isso”. Oscilações bruscas do tutti — do pianíssimo ao fortíssimo e vice-versa, mais nada. “Agora, esse cara nasceu lá por 1870, não pode esquecer isso. É interessante”. Vestígios de hinos americanos. “Uma balbúrdia festiva. Não é agônico…” [começa a rir]. Mais barulheira. “Dá o espírito de uma grande festa na rua, não é? Gente comendo pipoca… muita criança…” [gargalha]. A música termina. “Ouvindo agora, eu adorei! É uma experiência realmente estimável”. E rindo baixinho, para si mesmo: “Realmente, velho…”
Willy está compondo uma série de 13 bagatelas sinfônicas. “Experimentos orquestrais”, define. Três delas foram recém-gravadas por Ligia Amadio, regente da Orquestra Sinfônica Nacional, para lançamento em DVD. Está a caminho da 11ª: uma resposta a esse Ives, também autor de The Unanswered Question. Para a sua cacofonia, explica, dois minutos bastam. Mas se mudar de ideia? Ri de novo: “Não vou rever a piada. Gosto dela”.
– Você se vê como um compositor in progress? “Ou retrogress?”, devolve de pronto. “Não é mérito. Todo músico do século 20 é isso”. Em coisa de vinte anos (1987–2008), Willy Corrêa de Oliveira produziu 175 títulos novos contra os 48 escritos num mesmo período de tempo em sua fase anterior à crise (1957–1979). “Desde o final dos 80, só escrevo para mim mesmo. Quase como um louco sozinho numa cela. Escrever música para mim é uma pulsão, uma necessidade fundamental. Morreria se não escrevesse”. São composições para formação variada — solos (piano, violão, fagote, trompete, cello), canções para voz acompanhada (piano, clarinete, clarone ou percussão), quartetos, peças de câmara, obras corais e orquestrais e ainda espetáculos multimeios (música, teatro e projeções). Desse repertório, pouco mais de 10% veio a público por meio de gravações, partituras ou performance ao vivo. Willy faz música para o silêncio.

“Aceito isso com o espírito de condenação. O concerto me incomoda mais que o silêncio. Publicamente, é lavar roupa suja fora de casa, [mostrar] as sujeiras, os rasgos. Por outro lado, existe um componente que não posso medir mas intuo que exista: do fato de a gente se ocupar com arte de maneira profunda, alguma coisa nisto pode permanecer desta relação profunda. E por último, é sempre um ser humano que está fazendo. Pode testemunhar algo que pode perdurar, chegar a mais alguém”.
Willy tributa a um cineasta, a um filósofo e a um poeta o seu retorno à música: Andrei Tarkovsky, Walter Benjamin e Rainer Maria Rilke. Oito anos pautados no “marxismo como medida do mundo”, e uma revisita à filmografia de Tarkovsky o resgata do universo do pragmatismo materialista para “o inefável das batalhas do espírito”. Coincide com isso, um sonho perturbador com cromos e a grata alegria de descobrir em uma página de Benjamin a mesma afeição inocente por essas figuras encantadas do imaginário infantil. À época desses maravilhamentos, Willy rascunhava um texto sobre música e ideologia, para publicação na ex-URSS, com um capítulo sobre Rilke (“contra Rilke”, acentua), que se vê obrigado a reler. Foi a gota d’água. Do contato com o poeta, resulta abandonar o projeto político-editorial. Em lugar, “no dia seguinte me deu vontade de compor uma peça”. A música voltava, irreversível. O ano era 1987. “Chopin nunca saiu da minha alma”.
Significativo que Willy desistisse de inferir sobre os destinos do mundo no momento em que a utopia socialista dava primeiros sinais de falência — o Muro caiu (ou “foi derrubado”, como prefere) em 1989. Se há os abalos políticos, há também os existenciais, nesse compor (e recompor-se) sem referências éticas ou estéticas possíveis. A nostalgia de Tarkovsky, a rendição memorial de Benjamin, a poética de Rilke: tudo o devolve à subjetividade. E ao passado. Voltam recordações da infância, “lembranças que passam com toda a força da realidade”, nessa citação coadjuvante que traz de Bergman em Morangos Silvestres.

Puxa um livro: Walter Benjamin. “Posso ler? ʽNunca podemos recuperar totalmente o que foi esquecido. E talvez seja bom assim. O choque do resgate do passado seria tão destrutivo que, no exato momento, forçosamente deixaríamos de compreender nossa saudade. É por isso que a compreendemos, e tanto melhor, quanto mais profundamente nós já havíamos nos esquecido…ʼ Ele vai por aí, mas é tão bonito! Isto é tão sentido. ʽHoje sei andar, porém nunca mais poderei retornar a aprendê-loʼ. Putz! Isso é genialíssimo! Chegar a isto! Esse livro inteirinho é muito bonito”. A obra em questão é Rua de Sentido Único e Infância em Berlim por volta de 1900.
Como se espectador de um filme da própria infância, Willy volta ao seu elemento de nascença. Cânticos remotos, visões e imagens sonoras longínquas — “que não têm interesse senão pelo que representam na memória, pelo que têm de memória” — passam a modelar sua trama compositiva. “Como ilustração, não. Como sentimento, sim, sou capaz de me reportar a locais, a situações imagéticas”. O que compõe assemelha-se a telas sugestivas, com citações em deslocamento, sobreposição de perspectivas e estruturas espaciais, numa urdidura cinemática que, não nega, tem muito de Godard.
“Godard sabe que não há mais histórias para contar. E substituiu isso por um sintagma, um discurso coerente, mas sem uma história. Faz isso com fragmentos de imagem, de música, de tudo quanto é coisa. Bricolagem pura. E isso eu busco mesmo, bastante: a lógica de um discurso, e não um discurso lógico”.

Em 1989, o tímido renascimento de Willy é assistido por uma meia dúzia de pessoas no Conservatório do Brooklin e depois transmitido pela Cultura FM (São Paulo). No programa, uma coleção de miniaturas para piano, por José Eduardo Martins, e um interminável e angustiante discurso de mea culpa do compositor por se dar ao “abandono burguês à subjetividade”. Um momento histórico, e comovedor. Era um Willy novo, depurado dos “vícios, os maus hábitos” da vanguarda, mas também apurado nas boas lições do século 20 (“Ah, direto”, diz hoje). O construtivismo da ideia dava lugar a uma rede de relações no discurso. “O que mais me interessa na música é a semântica, o significado”.
Entre as peças daquela tarde, In memoriam Blas de Otero, de 1988, uma das páginas que melhor tipificam sua volta à música: concisão, densidade, volumetria cromática e poética. Nenhuma nota a mais ou a menos (dichtung, no alemão, é tanto poesia quanto síntese). Um arco inteiro de afetos (gli affetti, ou humores), da ternura à compaixão, da angústia à decisão, que ele abraça com um ostinato de 12 compassos, apenas (ou um minuto de piano). A peça evoca outro dado revelador: a forma-miniatura que ele assume vir, quem diria, do fustigado Webern, “de mais ninguém”. “Chegar à essência de cada nota musical é realmente extraordinário, queiramos ou não”.
Outro elemento preponderante passa a ser o palimpsesto, o texto escondido no texto, lição de metalinguagem trazida de Henri Pousseur nos idos de Darmstadt (objeto de estudo vertical de Maurício de Bonis em mestrado sobre Willy de 2006). “Se não existe uma linguagem”, diz Willy, “o que existe é uma metalinguagem. Ou você imita uma língua morta — portanto, falsifica — ou você fala das coisas velhas. Eu me interesso por variantes, não por repetição. Mas quando escrevo, que eu não copie: que eu reelabore. Quando já existe, eu não faço: eu ouço”.
Regra simples assim, mas tantas vezes relegado pelos próprios praticantes da vanguarda. “O capitalismo já arquivou a ideia de vanguarda [em seu recorte preciso: de 1952 a 1970]. Mas sem dúvida a ideia era muito mais sólida e rica que a dos nacionalistas da retaguarda. Foi uma espécie de iniciação que me deixou uma marca constante. Não me deixou jamais livre. Não tive a liberdade de ser vulgar, óbvio demais. Fiquei com o sentimento de querer dizer algo novo. Do contrário, estaria fazendo cópia da cópia da cópia”.
A título de provocação, é lembrado que essa mesma vanguarda decretou, em alto e bom som: “tudo foi dito”. Ao que reage: “Tudo o que foi dito só foi dito em dado momento. Está dizendo ainda. O gerúndio é fundamental. O presente é gerúndio. O passado não é gerúndio. Cada momento novo tem que dizer o seu presente. Você só diz o passado quando você imita. Muita gente imita o presente. Qualquer imitação é morte. Se tudo tivesse sido dito, a humanidade teria acabado. Deve ser dito! Vai ser dito!”
Sobre como dizê-lo, vale o parágrafo seu: “Mas é porque todos podem — hipoteticamente — saltar, que a aventura do salto é compreendida por todos (…) O movimento da poesia é o salto — a aventura alada do acerto da outra borda. Só compreende quem tem pernas, músculos, nervos, adestramento, mente e ânsia do impulso”.
Última visita a trabalho. Willy e Marta se despendem ao portão. Ainda é dia claro quando repórter e fotógrafo partem num carro coberto de pétalas roxas. Tempos de flor-da-quaresma. “Música é um conhecimento muito intranqüilo”, murmura ele.
Põe intranqüilidade nisso.
Leia também: Parte 1 | INTROITUS, Parte 2 | KYRIE, Parte 3 | DIES IRAE, Parte 4 | CONFUTATIS e Parte 5 | OFFERTORIUM
Utilizamos cookies essenciais para personalizar e aprimorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando você concorda com estas condições, detalhadas na nossa Política de Cookies de acordo com a nossa Política de Privacidade.