
Um altar de notáveis ou como Willy construiu seu santuário de influências, por Regina Porto
Regina Porto — Compositora, documentalista, ensaísta e agente cultural. É mestranda em Música pela Unicamp e em Ciência da Informação pela USP. Foi produtora e diretora da Cultura FM de SP, editora de música da revista Bravo!, curadora de concertos do Instituto CPFL e documentarista do Acervo Osesp. Suas áreas de interesse incluem artes acústicas, memória documentária e políticas de dados abertos. Conduz o projeto independente Ludovica® OpenMusic, pesquisa os manuscritos do Acervo Koellreutter e estuda a obra de Debussy. É bolsista CAPES pela USP.
ilustrações por Alexandre Amaral — Ale Amaral é pai da Laura e continua insistindo ser designer e músico. Trabalha no Sesc São Paulo desde 2004, atualmente como designer gráfico no Selo Sesc. Toca bateria no barulhento duo Bugio e em projetos de Improvisação Livre. É Capricórnio, mas com ascendente em Peixes.
Artista sem pares. Pensador de estirpe. Músico central — e fora do eixo. Gênio? Louco? A publicação deste manuscrito, engavetado por mais de uma década, recupera a trajetória desviante do ultramarxista Willy Corrêa de Oliveira (Recife-PE, 11 de fevereiro de 1938), compositor que fez história na música erudita brasileira, abriu combate contra o chamado sistema, deu tchau às vanguardas de estimação e cavou a própria bonança em vida — não sem antes infernizar meio mundo, dentro e fora da academia, a começar pela USP. Relato em forma de Réquiem, em seis movimentos de época, originais de 2008.
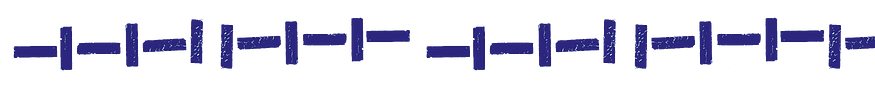
Leia também: Parte 1 | INTROITUS, Parte 2 | KYRIE, Parte 3 | DIES IRAE, Parte 4 | CONFUTATIS e Parte 6 | LIBERA ME
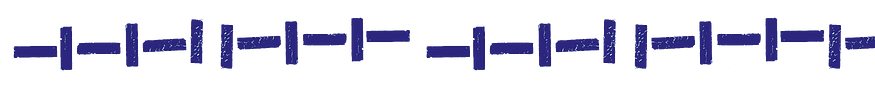
O estúdio é o único lugar da casa onde o espírito ordenador de Marta não entra. Vê-se pelos papéis espalhados pelo chão, pelo apreço a quinquilharias, pelo acúmulo de toda sorte de miudezas do passado que a memória tratou de engrandecer. Sobe-se à edícula, situada sobre o quintal dos fundos, por uma escada de ferro estreita, íngreme e helicoidal, que Willy transpõe a passadas largas, pulando degraus, sempre no desuso do corrimão. O ímpeto de seus movimentos lembra o de uma criança arrojada. De certa forma, aquela é sua casinha de infância construída sobre a copa de uma árvore. Um território exclusivo. “Quando era criança, tinha alguma dificuldade de comunicação”, conta. “Inventei um interlocutor. Num muro nos aposentos dos empregados desenhei a carvão uma casa com as janelas e as pessoas: meus ‘amigos’. Me sentia mais à vontade com eles”.
“Eu, pelo contrário dos meus amigos, gosto de discutir, enfrentar as diferenças”
O quadro, hoje, pouco difere. A arquitetura mental e afetiva do Willy permanece assim: reservada a um espaço interior, que ele agora materializa naquela câmara de seus vinte metros quadrados, se tanto. Nela o compositor trabalha todos os dias, num velho piano Schwartzmann de armário. Nela mantém suas partituras e o amontoado de livros, muitos em edições raras e línguas diversas. Acervo precioso, cobiçável, do qual só se tem a lamentar o desfalque das publicações de música contemporânea de que se desfez (“me livrei”) quando rompeu com a vanguarda. Não há um só dado daquele estúdio abarrotado que sua memória fotográfica não o tenha de cor. À mínima sugestão, ele salta sobre tal ou tal estante e saca o título buscado, a página exata, a citação precisa, a imagem necessária.
Lê e compõe em igual proporção. Em seu prefácio à tese, registraria com gratidão sincera “a preciosa companhia — modesta e suave — de Walter Benjamin”, com quem afirma manter hoje “uma interlocução tão viva quanto qualquer outra”. Por muito tempo, Willy bradou palestras contra o filósofo de Noção de História, “que achava texto metafísico, cobrava dele uma dialética materialista”. Dele, atualmente devora o portentoso lançamento de Passagens; e, no fim do ano, leu A História de uma Amizade, livro que registra suas conversações, nem sempre convergentes, com Gershom Scholem. Impressionou-se. “Eu, pelo contrário dos meus amigos, gosto de discutir, enfrentar as diferenças”. No contexto das desavenças do passado, a palavra amigos salta como um ato falho, um punctum fotográfico. “Mas não gostaria de encontrá-los. Coração aberto não tenho mais”, responde, reticente. “Mas o substrato é carinhoso”.

Desde que “perdeu os amigos”, Willy se refugiou na companhia intensa, imaginária, de parceiros ideais, idealizados. “Se você não tem o outro instrumento afinado no mesmo diapasão, pode até dialogar, mas não tem como tocar junto. Não posso inventar amigos”. Projetou-os. Retratos de notáveis, como Benjamin, ocupam as paredes laterais ao piano, sempre em conformidade com a rigorosa — e cambiante — hierarquia estabelecida por ele. São os “interlocutores fiéis” em cuja companhia Willy se aquece. Com eles partilha certezas e incertezas no ofício diário de compositor. Com eles estabelece debates difíceis, por vezes conflitantes, acalorados. É dessa convivência, tão singular, que é instado a falar.
“Me chamou de volta para a música erudita burguesa. Culpa dele”
Aponta. À direita, ele explica, dispôs aqueles que o representam pela “raiz do espírito”. Volve-se. “À esquerda, estão meus guias tutelares”. A montagem à direita é racional, consciente: Marx, Engels e o teólogo socialista Teilhard de Chardin em “completitude completa”; Brecht e seus dois colaboradores, os músicos Hanns Eisler e Paul Dessau (de Mãe Coragem); e ainda Albert Schweitzer, em quem admira o filósofo, o médico, o teólogo, o músico e teórico de Bach. Abaixo, representações figurativas em singelas associações: uma paisagem do Recife justaposta a outra pintada pela filha Susana; uma reprodução da Pomba da Paz de Picasso junto ao canhão do Kremlin; uma ilustração do Patinho Feio, na clássica edição da Melhoramentos, contra recortes das atrizes Harriet Andersson (em Mônica e o Desejo, de Bergman) e Valeria Ciangottini (garçonete em La Dolce Vita, Fellini), “duas mulheres marcantes”.
Na parede à esquerda, sim, um vislumbre do espelho completo: seus modelos simbólicos, seus parâmetros para a criação. “Cada um tem um porquê de estar aqui”, diz, com modos de anfitrião. O sinfonista austríaco Gustav Mahler (1860–1911), por ser “o primeiro trágico de todos”. “Foi um compositor dentro do capitalismo quando não se tinha nenhuma solução para a música”. Ludwig van Beethoven (1770–1827), o mestre de Bonn: “anteviu todos os trágicos”. (A reincidência do designativo não será casual: Willy pertence à tipologia dos trágicos, o homem em busca do Graal). Diante do kantor supremo de Leipzig, J.S. Bach (1685–1750), derreia a boca, na inutilidade ou insuficiência de qual quer comentário. E, dedo em riste, responsabiliza o cineasta russo Andrei Tarkovsky (1932- 1986): “Me chamou de volta para a música erudita burguesa. Culpa dele”. (Explicará.)
“Buscar, buscar, sempre buscar…” Não pelas últimas palavras que proferiu, mas por “ficar desesperado por ser um senhor agrário”, explica a presença do romancista russo Leon Tolstoi (1828–1910), “companheiro daquela época estranheira” [os anos de crise]. Faz uma digressão. “Estou relendo Dostoievski. Poderia tirar Tolstoi, mas ele ficaria magoado, isso não faço. Tolstoi é mais um contador de história, eu gostava pelos livros didáticos, infantis. Dostoievski, não. É um fenômeno estranhíssimo, é um Mahler literário: se esvai, se dilacera. Tudo se resolve na literatura, pela escrita. Que força!”.
“Pedir que a música seja outra coisa é querer viajar sem sair de onde se está”
Segue adiante e apresenta o rosto desconhecido do espanhol Blas de Otero (1916–1979): “por sua poesia clara e muito social”. A ele dedicou uma das peças mais impressionantes que marcariam sua reinvenção da música, como ainda se verá. Mira o retrato do escritor irlandês James Joyce (1882–1941), “criador por excelência” [leia-se: paradigma das vanguardas]. “Nada a ver com nada, criação pura. Toda vez que tenho um problema, passo pra ele”. Entre esses ódios e amores no círculo de suas contradições, esse dizer- desdizer constante valerá também para os dois retratados seguintes: Arnold Schoenberg (1874–1951), “alma do século 20 todo”, e Heitor Villa-Lobos (1887–1959), “a alma do Brasil”. A ambos tem no mesmo patamar de relação: “Xingo, beijo o chulé”.
Villa-Lobos só recente teve seu respeito. “Eu não chamaria de reconciliação tardia porque nunca houve uma conciliação”, diz. “Não me interessava. Era verborrágico, era empestado, ignorante. Sobretudo era nacionalista, quando eu era o antinacionalista por definição. Só por um mero acaso que…” Conta. Ouviu Villa pelo rádio, e recebeu “aquela tristeza como chamado”. “Uma revelação brutal. Maior do que a ignorância, era a genialidade”. Despiu-o dos estereótipos — folclorismos, síncopes, formas “precárias” — e viu “tramas que só um grande rendeiro musical poderia ter feito”.
Em outubro, fechou um ensaio em 12 capítulos (Com Villa-Lobos, Edusp, no prelo) com uma análise sem precedentes do compositor: sua “dramaturgia de collages”, seus objets trouvés, sua “polifonia de polifonias”. Num achado, define a forma, em Villa, como “paisagem passando” (“a unidade da viagem são as passagens, os acessos”) e o conteúdo, como convite a “um lugar à janela”. “Pedir que a música seja outra coisa é querer viajar sem sair de onde se está”, escreve. E antes que se diga um “A”, o texto se adianta: “Todos sabem que eu havia assassinado Villa-Lobos. Nunca escondi de ninguém o fato”. E antes que se precipite sobre possíveis pazes com o nacionalismo (“De jeito nenhum!”), retruca: “O que faço é uma avaliação mais madura, mais substancial: retirar o preconceito, a etiqueta e ver o que tem por dentro”. Moral da história: “Um grande gênio não é redutível à música nacionalista. Assim como Bach não é redutível à música religiosa”.
No seu altar-mural, só dois outros compositores terão lugar. Um é o húngaro Béla Bartók (1881–1945): “Criou modo novo e ainda fazia melodia. Rompia sem dramas”. O outro, o russo Dmitri Shostakovich (1906–1975), no maior de todo os retratos: “Grande!” É convocado a se explicar. “Faz música nova com materiais velhos, com dó maior. Bricolage extraordinária com coisas usadas, com restos da História. Revivifica dados da tradição. Compõe um pensamento inteiro só com densidade”. Num átimo, passa de cabeça suas quinze sinfonias, com destaque para a de nº 5 (“Um monumento, entre as poucas Quintas que chegam aos quintos dos infernos”) e a sétima, Leningrado (“Um poema sobre a densidade. Foi tocada 78 vezes em 1944 durante o cerco nazista”). “Fez coisas de gênio com o que era possível, e coerente, num Estado socialista”.
Shostakovich é crucial por estar no centro da Guerra Fria e por ser uma de suas maiores contradições político-culturais. Embora um representante do Realismo Socialista, sua música politicamente revolucionária cai mais fácil no gosto do público “burguês” do que um Stravinsky, que se refugiou e fez nome no Ocidente com obras revolucionárias à raiz da linguagem (e em quem Willy só reconhece A Sagração da Primavera. “O resto é obra de gênio, mas não genial. Em Shostakovich, é gênio, direto”). Quanto à relação soviético- capitalista não vê contradição, mas congruência. “Primeiro pela condenação da dissonância como linha de força; segundo, pela busca de uma base harmônica no pós-tonalismo do século 19 — tradições a que o burguês tem acesso”. E refuta qualquer acusação de totalitarismo na estética imposta pelo Estado soviético. “Na URSS não houve clima propício para subjetivismos doentios, idéias de ʽvanguardaʼ. O proletariado era movido por outro pensamento: o uso social da música, o cuidado com que o povo tivesse acesso aos dados de cultura”.

De volta aos guias, nomina seis entre os poetas que visitou como compositor. Em maior número de obras: Bertolt Brecht (1898–1956), “a consciência do mundo”, que lhe valeu 25 canções de luta; João Cabral de Melo Neto (1920–1999), em oito títulos feitos canções: “Poesia que tem muita força sobre mim, por ser muito pernambucana”; e Rainer Maria Rilke (1875–1926), “um fascista com quem gosto de conversar”, e a quem dedicou cinco Lieder. Em títulos únicos: “pela força da feminilidade”, a poetisa russa e “guia tutelar extrema” Ana Akhmátova (1889–1966), de quem musicou Lendo Hamlet, para soprano e piano; o poeta e romancista russo Boris Pasternak (1890–1960), “alma trágica soviética”, de quem escreveu Hamlet, para coro misto (“Poesia que tem muito de música. No corpo de uma frase, já mudou tudo. Muito a ver com a música do século 20”); e o poeta britânico Dylan Thomas (1914–1953), que inspirou seu magistral madrigal In my craft or sullen art (Em meu ofício ou soturna arte, em bela tradução de Lauren Couto Fernandes), recém- gravado pelo grupo Hespérides (“Poesia única, traduziu sentimentos intraduzíveis”).
A essa altura já se avulta assustadoramente a forma como a mente de Willy se entrelaçou a cada uma das almas àquela parede, e como o legado de cada uma construiu seu pensamento criativo e sustentou sua sobrevivência moral ao longo de quase um quarto de século (!) de confinamento intelectual. Resiliência, embora mau estrangeirismo, talvez seja, nessas horas, palavra melhor que resistência. Considerações que a visita tem por bem calar, enquanto Willy cuida de finalizar a listagem.
Adiante, Po-Chü-I (772–846), poeta chinês, “porque queria ser claro: mostrava poemas para a lavadeira avaliar”; Graciliano Ramos (1892–1953), “a moral da escrita”; Mário de Andrade (1893–1945): “a consciência brasileira está toda nele”; o hindu Rabindranath Tagore (1861–1941): “poemas de densa espiritualidade e muito fáceis”; e, “pela contenção”, o escritor russo Isaac Babel (1894–1940): “Escreve cem páginas em duas. Força de concreção pura”. (Grifaria ainda o escritor soviético Chinghiz Aitmatov (1928- ) e dois marxistas ingleses, o compositor Cornelius Cardew (1936–1981) e o crítico Christopher Caudwell (1907–1937), autor de Illusion and Reality. “Você leu?”)
Adornam o piano dois retratos de Marta quando jovem, um burrinho de carga do agreste e um cesto de palha com flores de plástico, objeto que reproduz, fielmente, uma de suas tão caras figuras de cromo — essas estampas antigas e raras, semelhantes a decalcomanias, de que é colecionador zeloso desde menino. À saída, já de frente para a escada, um cantinho para últimas “lembranças de alguns sábios”: Schoenberg, Schubert, Dostoievsky, César Franck, Liszt, Verdi, Mozart, Bach, Beethoven, Brecht, Chopin.
E a ausência, inexplicável, do Schumann que tanto ama e em quem talvez se reflita nessa vivência insana e ameaçadora da “voz interior”, e naquilo que o próprio Willy aponta, em antiga obra sua nele inspirada, como “desejo mórbido de música e de piano”. Schumann, como se sabe, viveu em constante dicotomia de personalidade (seus duplos eram Florestan, o impulsivo, e Eusebius, o introspectivo). Um artista brilhante, sujeito a crises severas e de suscetível integridade emocional. Um caso até hoje não explicado.
Leia também: Parte 1 | INTROITUS, Parte 2 | KYRIE, Parte 3 | DIES IRAE, Parte 4 | CONFUTATIS e Parte 6 | LIBERA ME
Utilizamos cookies essenciais para personalizar e aprimorar sua experiência neste site. Ao continuar navegando você concorda com estas condições, detalhadas na nossa Política de Cookies de acordo com a nossa Política de Privacidade.